Text
Nota sobre o estilo
Goffman aponta maneiras específicas pelas quais podemos identificar que as expectativas sociais não estão apenas embutidas na fala e na ação, mas que a própria fala carrega reações a essas expectativas. Segundo Goffman, quando indivíduos agem e interagem, eles mantêm certa liberdade dramatúrgica; eles têm o potencial de transmitir um dado conteúdo proposicional, por exemplo, de várias maneiras. Essas maneiras, que podem envolver entonação, uso de figuras de linguagem, movimentos faciais e corporais, entre outros aspectos de autopresentação, podem carregar seu próprio conteúdo semiótico: são portadores de significado.
Os aspectos performativos e estilísticos da ação de uma pessoa têm significado e podem intervir e ajudar a moldar as formas pelas quais ela é percebida. Indivíduos não são meramente passivos quando se trata de determinar como são vistos. Para explorar as maneiras como isso ocorre, gostaria de falar do exemplo do “estilo”, tratado aqui como uma forma sensível de representar ideias de natureza social e política.
Para Ernst Gombrich, o estilo é o que conecta os domínios da arte e da teoria social. Carnevali define o estilo como “a arte de criar o social”. O estilo é o que torna pessoas, lugares e grupos distinguíveis; serve como uma característica definidora entre indivíduos. Nesse contexto, funciona como uma ponte entre estruturas sociais universais e comportamentos individuais ou de grupo. O estilo emerge através da conversão de elementos sociais em formas estéticas. Quando se trata de autopresentação, uma forma de estilização que depende de uma manipulação da visibilidade, essa forma estética é o próprio sujeito. Nesse sentido, pode-se dizer que o estilo molda—se não cria—sujeitos.
Na medida em que pode ser “decodificado” para descobrir seu conteúdo experiencial, o estilo pode ser considerado um meio de comunicar desejos, tendências, emoções ou sensações que não vêm à tona através da reflexão, mas residem no domínio da expressão estética. O processo comunicativo através do qual uma mensagem é transmitida emprega vários tipos de símbolos. Isso abrange não apenas a linguagem falada, mas também sinais não-verbais, como vestuário, penteado, maquiagem.
Embora tipicamente associado à individualidade, o estilo também pode ser uma característica de grupo. Existem estilos específicos para classes sociais, grupos, profissões, gerações e subculturas. No contexto da modernização, o estilo e a visibilidade assumem uma importância especial na formação da cidade, especialmente a capital europeia. Como observou Baudelaire, a modernidade traz a necessidade de se distinguir da banalidade da vida cotidiana; a solução é criar-se sensivelmente, o que Baudelaire chama de “dandismo”.
Segundo Simmel, abordando um contexto semelhante, o meio de mediar entre a necessidade de distinção e a pressão para reproduzir normas sociais é a moda, o reino adequado da autopresentação. Além de simplesmente mediar a tensão entre individualidade e coletividade, o estilo serve como uma possível ferramenta política. As leis sumptuárias, por exemplo—que outrora regulavam o consumo e os modos de autopresentação na Europa pré-moderna para conter o luxo e o excesso—eram, em essência, estratégias políticas destinadas a controlar comportamentos. Em um contexto colonial, a Igreja Católica condenava a autoexpressão através da vestimenta, fundamentando isso como um argumento moral e exercendo uma forma de autoridade colonial moral. Embora a regulamentação da autoexpressão estilizada nas sociedades contemporâneas tenha se afastado do âmbito religioso e governamental em direção à esfera social, sua influência perdura de uma forma diferente. Como diz Barbara Carnevali:
“Ao controle dos estilos por meios normativos foi amplamente removido da dimensão legal e transferido para a esfera social. Nesta última esfera, que não é menos repressiva, não são as leis do estado que determinam a divisão dos estilos, mas as leis do reconhecimento, da imitação e da distinção — as leis da moda.”
Essas leis da moda não são inteiramente autônomas. Foi Bourdieu quem cimentou a ideia de que escolhas de vestuário e modos de comportamento servem como expressões de normas estruturais mais amplas. O estilo não reflete meramente as preferências de um indivíduo; ao contrário, está entrelaçado em um “campo” que permite sua compreensão através de tensões e relações mais amplas. Como ilustrado por Bourdieu em “A Distinção”, onde ele analisa as preferências de várias classes sociais na Paris dos anos 1970, o gosto é inerentemente gosto de classe: as classes superiores estão constantemente envolvidas em um processo de moldar o gosto, influenciando subsequentemente as classes inferiores com base em sua estrutura aspiracional.
Como aponta Hebdige, os modos das classes dominantes permanecem consistentemente como as normas prevalecentes, evoluindo ao longo de diferentes eras: “A classe que detém os meios de produção material também comanda a autoridade sobre os meios de produção mental.” Nesse contexto, o estilo se torna uma arena para a luta de classes. O estudo cultural de Hebdige sobre a Inglaterra do pós-guerra indica que o surgimento de subculturas significa a fratura do consenso no pós-guerra. Dentro desses subgrupos, emergem inclinações políticas distintas e métodos de expressar conflitos de classe. Essas inclinações e conflitos são transmitidos, como nota Hebdige, “obliquamente”, através do estilo. Baseando-se na semiótica de Barthes e na teoria da ideologia de Althusser, Hebdige explora os mecanismos conscientes e inconscientes pelos quais formas de autoexpressão estética efetivamente transmitem significado, estes suscetíveis de manipulação por diversas subculturas. É possível, segundo Hebdige, “discernir mensagens ocultas codificadas na superfície do estilo”.
Politicamente, o estilo pode funcionar como uma forma simbólica de resistência. Em vez de os conflitos de classe terem desaparecido para dar lugar a meros conflitos estéticos, como foi hipotetizado, os conflitos de classe se deslocam para um reino simbólico enquanto ainda retêm seu substrato de classe. Subculturas surgem como respostas a contextos sociais e políticos, impulsionadas por experiências sociais e aspirações de mobilidade social ou manutenção de status. Um estilo emerge como uma reação a um estado de coisas compartilhado a partir de uma perspectiva situada.
O estilo, essencialmente, é o nome para o trabalho estético que transforma o conteúdo experiencial em um modo de autopresentação. O estilo não existe em um reino puramente autônomo, mas responde a demandas sociais, expectativas normativas e modos de autoexpressão mais ou menos estabelecidos. Simultaneamente, surge da necessidade de expressão individual e, nesse sentido, pode ser entendido como um domínio no qual entende-se que os indivíduos exerçam algum controle—um domínio sobre o qual podem deliberar e que podem manipular.
O conceito de estilo serve para definir uma certa disposição que possui uma expressão política mais ampla. Em outras palavras, através da manipulação do estilo, é possível exercer controle sobre a visibilidade de si mesmo. O estilo é um dos fatores que determinam se os indivíduos são mais ou menos visíveis. É um elemento essencial nos processos de socialização precoce, por exemplo, onde se vestir de certa maneira pode levar a uma recepção melhor ou pior por parte de um grupo ao qual se pretende pertencer. Em última análise, o estilo emerge como uma ferramenta na interação entre individualidade, visibilidade e autoexpressão. Ele faz a ponte entre a experiência pessoal e a autoexpressão.
1 note
·
View note
Text
Nota sobre primeira pessoa
Estou lendo o livro novo da Anna Kornbluh, Immediacy. No capítulo sobre literatura, Kornbluh fala sobre como o número de obras em primeira pessoa passa a aumentar vertiginosamente a partir dos anos 1960 e 1970. Seus exemplos anedóticos são o da prevalência dos gêneros autoficção e “memoir” no topo das listas de best-sellers e, ao mesmo tempo, de aclamação crítica. Kornbluh é crítica da tendência—segundo ela, resultado de um achatamento das instâncias de mediação entre o sujeito e o mundo, de forma que a única forma criativa aceitável passe a ser a expressão da experiência imediata, individual, vista como “real”. O argumento é substanciado com uma análise de computador que, plotada num gráfico, mostra uma curva ascendente de publicações em primeira pessoa a partir da segunda metade do século XX. Como disse, Kornbluh é crítica dessa tendência, mas acho que falta na análise dela uma explicação sobre porque exatamente esse é o estado da situação. Quer dizer, acho que a crítica dos efeitos da hegemonia da primeira pessoa, que ela também identifica em outros meios (vídeo, por exemplo) é melhor se vier acompanhada de uma explicação mais ou menos genealógica—o projeto de crítica marxista à qual Kornbluh subscreve e que vê sua maior expressão em Fredric Jameson, afinal, é de uma crítica imanente à coisa.

Aqui me parece que um argumento que ela não está exatamente avançando, mas me parece oportuno, é a de que as formas de se articular questões *políticas* que foram se formando do início à metade do século XX—comunais, de grupo, colaborativas, mais próprias aos movimentos sociais—vão também dando lugar a formas de articular reivindicações político-normativas em primeira pessoa. Ou seja, não é apenas a ficção que é canalizada à primeira pessoa, mas também a expressão de ideias políticas. Ocorre—me parece—uma espécie de fusão entre o estético e o político também neste sentido. Quer dizer, se—de acordo com o argumento da Kornbluh—a visão individual em primeira pessoa é estetizada e fetichizada como a única forma através da qual pode-se fazer ficção, também me parece que o próprio formato de expressão em primeira pessoa se torna politizado. Por uma série de fatores, inclusive a ultracomodificação da opinião, o argumento político passa a ser primariamente expresso em primeira pessoa.
E isso se dá em diversos gêneros. Aparece num registro ensaístico, também num registro autoficcional, como a Kornbluh discorre em detalhe. Ou seja, assim como emerge uma visão de primeira pessoa na literatura, também essa visão de primeira pessoa passa a ser uma das, ou talvez a forma própria, de agir politicamente. Ensaísmo e literatura são exemplos, mas a tendência aparece também em formas de expressão estética não tão reflexivas: formas que não são tão evidentemente artísticas, ou criativas, mas que são ainda formas de expressão humana, de ação expressiva. Meu exemplo de sempre é o da moda. As formas de nos vestirmos passam a ter uma dimensão mais evidentemente moral. Quer dizer, a forma através da qual eu me expresso sensivelmente, dado que ela está reduzida à primeira pessoa, e a primeira pessoa é o modo próprio também à articulação política, adquire uma conotação moral, ou política. Dito de outra forma, dado que a forma através da qual eu aprendo a me comunicar e me expressar moralmente está reduzida, ou direcionada a uma forma de expressão em primeira pessoa, as formas de me expressar politicamente, de articular impressões, preferências normativas, também vão se tornando formas de expressão em primeira pessoa. Não mais através de pretensões universais, mas através de impressões individuais. Não mais através de reivindicações de justiça, mas através de reivindicações de uma “boa vida.” Não mais políticas, relativas à formação e manutenção da comunidade, mas sociais, relativas à autorrealização.
Naturalmente isso não é uma plena novidade, mas talvez uma explicitação de uma tendência já presente nos primórdios da modernidade ocidental. Ver, por exemplo, sobre a própria ideia da moda como catalizador de impressões e orientações morais/sociais, o tratamento que Simmel dá ao tema. Kornbluh aponta o aumento substancial do discurso em primeira pessoa nos anos 1960 e 1970 (depois de um declínio que começou na segunda metade do século XVIII e que corresponde 1:1 à hegemonização do romance como forma literária burguesa), mas talvez essa seja apenas uma tendência radicalizada no fim do século XX, e que deve ser investigada em sua origem. Uma tendência latente já identificada na virada do século XIX para o XX. Simmel parece ter percebido essa tendência (da expressão em primeira pessoa ser diagnóstica de pretensões sociais, visões normativas e impressões morais) no seu tratamento do que chama de filosofia da moda. Para o Simmel, a moda é a forma tipicamente moderna de engajamento simultâneo com as obrigações de distinção e integração social. Por ser a forma individual de articulação de duas tendências (obrigações) sociais, a moda fica numa encruzilhada, numa tensão jamais plenamente irresolvível entre a obrigação social (externa, em terceira pessoa) e a expressão individual (interna, em primeira pessoa). É uma forma própria de comunicar, em primeira pessoa, uma resposta a uma demanda coletiva.
Ou seja, o fato de que, com o advento de (escolher: internet, redes sociais, o ensaio pessoal, o “like”, o Instagram, etc.) todo mundo consuma conteúdo em primeira pessoa é—estou sugerindo—mera explicitação de uma tendência própria à modernidade ocidental, que faz com que a primeira pessoa se torne, progressivamente, o núcleo de articulação da experiência social, mesmo quando almeja fins políticos.
4 notes
·
View notes
Text
Nota sobre o céu
Querer ser um astronauta quando crescer é uma aspiração muito mais natural e muito mais autêntica para quem nasceu no interior e cresceu com a chance de olhar para o céu à noite e ver não só o céu, mas o universo. Olhar para cima em Três Coroas não é o mesmo tipo de atividade que olhar para cima em Porto Alegre, ou qualquer outra cidade grande, onde nem existe para cima, só pros lados e para frente. O mar de pontinhos no céu à noite que se vê no interior é uma propaganda de si mesmo.
Na condição de alguém que nasceu e cresceu em Três Coroas, onde o céu é enorme e só acaba quando começam os morros, não há nada exatamente místico em observar as estrelas. Mas há algo muito forte e eu diria terapêutico em voltar a fazer isso depois de crescido. Há uma intimidade que retomo com as estrelas quando volto a vê-las depois de muito tempo. Elas permanecem onde as deixei. E quando volto reagem como se nunca as tivesse deixado. São como os bonequinhos que eu arrumava num cenário elaborado antes de brincar e acabava nunca brincando — o prazer era deixá-los lá. Com a diferença de que as estrelas se arranjam num cenário muito mais elaborado, e que eu sempre acreditei, mesmo criança, muito mais nelas do que nos bonequinhos.
A cabeça vira um caldeirão depois de alguns minutos olhando para o céu à noite. Os olhos vão se acostumando com a luz baixa do ambiente ao redor — não há ninguém de pé de madrugada, nenhuma janela iluminada, as únicas luzes mais próximas são das lâmpadas incandescentes dos postes — e à medida que o escuro vai deixando de ser um problema, a paisagem intrincada do céu vai se formando com mais clareza. Para onde se olhe há pontinhos luminosos, e aos poucos vai aparecendo, no meio do céu, um feixe onde as estrelas parecem se aglomerar. É um dos braços da galáxia. Até estranho pensar que estou vendo, só de olhar para cima e com os meus próprios olhos, algo tão distante e tão abstrato — quase metafísico — quanto uma galáxia. A Via Láctea existe e fica no meu pátio.
Meus momentos íntimos com as estrelas são raros, e normalmente acontecem, curiosamente, no Natal. É quando aproveito para fugir de Porto Alegre e ficar uns dias sozinho em Três Coroas, enquanto o resto da família está viajando. Nesta época, em que tenho a casa só para mim e para o universo, fico mais suscetível a prestar atenção naquilo que ignoro durante o resto do ano, quando sou constantemente bombardeado por informação. É preciso não ter compromissos nem pressa para observar as estrelas sem pesar. Não que elas se importem ou fiquem magoadas, só que olhar para o céu é um momento de vulnerabilidade e sinceridade. Um momento em que se fica desarmado e em que não se tem a ironia ou nenhuma outra figura retórica para se defender, porque a relação que se estabelece com os milhões de pontinhos que vemos piscar não é de ordem lógica ou racional. Talvez seja daquela mesma ordem da relação entre o mar e quem olha para o mar, irredutível a qualquer tentativa de descrição. Isso ajuda a entender o momento: quando estou sozinho, não preciso explicar o que estou fazendo, até porque nem teria como.
Sou acompanhado pelo coaxar dos vários sapos, de um grilo que canta aqui e ali e de uma coruja e outros pássaros que piam isolados. A riqueza da experiência tem a ver com isso — estar do lado do mais terreno e local que existe, a vida na terra, ao mesmo tempo que olho para o mais distante e, literalmente, universal: fenômenos que estão acontecendo ou já aconteceram a milhões de anos-luz e milhares de anos de distância. E ao mesmo tempo o feitiço que causa pensar que essa distância inconcebível é ainda muito pequena se comparada à distância do que observo àquilo que nem consigo enxergar.
Fico pensando em abrir um Observatório do Céu à Noite, que, diferente dos outros observatórios astronômicos que existem por aí, não teria nenhum fim científico e nem serviria para aumentar o conhecimento da humanidade. Quem fizesse parte dele não precisaria saber nada de céu ou de astronomia. A sede seria em cada cidade do interior. Quanto mais bonito o céu naquela cidade, mais importante a sede. Os membros compartilhariam do gosto por sentar na grama de madrugada, do lado dos sapos, molhar a bermuda no orvalho, e se sentir uma criança olhando para um brinquedo novo. Os temas do Observatório seriam tantos quantos são os pontos no céu e a relação entre eles. Perto das Três Marias, quando observo com o binóculo, há uma região onde parece que há fumaça e alguma forma de luz misteriosa— parece uma caverna. Do outro lado, passa um ponto de luz percorrendo o céu na mesma velocidade em que uma formiga percorre o vinco no piso quando olho para ela de pé. Outro ponto tem a luz mais avermelhada (e às vezes pisca), já outro, quando vejo pelo binóculo, deixa de ser um ponto e vira uma bolinha. Será um planeta? Ou uma estrela mais próxima? São questões para o Observatório do Céu à Noite.
É natural que se perca a noção de tempo depois de transcorrida alguma porção dele. Não sei quanto tempo fiquei na rua, no meio do pátio, olhando para cima. O universo não funciona como o mundo humano, e sua temporalidade é a do infinito. E em relação ao infinito todos os outros tempos são igualmente distantes.
———
(Escrevi este texto em 2016 e acho que só tinha postado no Facebook).
2 notes
·
View notes
Text
Nota sobre jardinagem e luta de classes
Tive um fim de semana mais ou menos temático de jardinagem. Li O tempo da paisagem, do Rancière, vi o Master Gardener, do Paul Schrader, e fui no museu para ver outra coisa, mas acabei vendo também a seção de pintura do século XVIII, quando as figuras humanas vão ficando menores e vão dando lugar às as paisagens atrás delas, que vão ficando grandes e grandiosas.
Comprei o Tempo da paisagem do Rancière faz um ano, mas só li agora. Quando comprei, fiquei pensando naquela frase do Chico Mendes, "ecologia sem luta de classes é jardinagem", e se existiria alguma coisa como um campo de estudos críticos da jardinagem. Se esse campo existe, o livro do Rancière é uma espécie de representante. O livro trata da "entrada" da arte da jardinagem no panteão das artes liberais no século XVIII, junto com a pintura, a música, etc. "Liberal", como aponta o Rancière, adquire naquele século também o sentido de um tipo de observação do mundo e da natureza dissociada de um juízo de valor moral. É o que culminará, com Kant, na ideia de "desinteresse" do juízo de gosto. A arte é "liberal", agora, também no sentido de que a beleza pode ser aferida independentemente do contexto de sua produção ou execução.

O objeto do Rancière no livro é a pintura de paisagem e a arte da jardinagem, que ele mostra terem uma relação de desenvolvimento íntima e codependente. Em certos momentos, a pintura de paisagem tem na natureza organizada da jardinagem sua fonte de referência; em outros, é a jardinagem que se inspira no princípio de organização da multiplicidade na unidade a que a pintura de paisagem obedece. Esse processo de desenvolvimento e emancipação da jardinagem se cruza com processos políticos como o que levou à Revolução na França: para alguns ingleses, a organização geométrica e as linhas retas da jardinagem francesa deveriam servir também à Inglaterra como modelo de organização do espaço visível. Para outros, a rigidez dos ângulos retos e a preferência por árvores que produziam menos sombras significava a rejeição de uma natureza prístina, capaz de, ao mesmo tempo, agradar o olhar do observador e saciar a sede e oferecer sombra ao trabalhador cansado.
Categorias próprias à arte da jardinagem entravam, com isso, em um registro político. Rancière se reporta a Burke para apontar para uma certa a literalização das metáforas naturais: "As gradações das ordens sociais se tornam gradações das luzes sobre uma tela. A dissimulação da desigualdade na aparência da comunidade é tratada como a dissimulação dos extremos de um lago ou da origem de uma queda d'água que dá uma extensão imaginária a uma paisagem delimitada" (108). A montanha aparecia como o símbolo da frieza distante da razão pura; a paisagem construída e as casas de campanha, representação da organização comunitária do mundo.
Além de ver como uma linguagem própria à arte da jardinagem serve de vocabulário político para dar conta das revoluções do século XVIII, acho interessante o ponto de que as categorias estéticas da jardinagem acabaram sendo eclipsadas por aquelas próprias, principalmente, às artes plásticas. Com Kant, a paisagem se torna par à pintura; porém, o vocabulário estético que se desenvolveu para dar conta da experiência de observar uma paisagem, como, nos exemplos de Rancière, o "pitoresco" e o "grandioso", vão desaparecendo em prol dos extremos "belo" e "sublime", que se canonizam na história da estética como os limites do juízo estético. O "belo" normalmente aplicado para coisas pequenas, arredondadas e rebuscadas; o "sublime" para as coisas grandes, angulosas e brutas. As categorias intermediárias, que se prestariam melhor a cruzar a ponte do juízo de gosto com o comentário social, vão sumindo do mapa. Com Hegel, finalmente, a arte da jardinagem receberia sua última pá de cal, relegada à mera natureza, sobre a qual a disciplina da estética—preocupada apenas com as criações do espírito humano—deve se calar. Assim como a liberdade social está no Estado, não na natureza (como queria Rousseau), a liberdade artística está, para Hegel, naquilo que a mente humana produziu.
O paradoxo da jardinagem está em que ela não é "apenas" um produto da natureza. Enquanto o princípio mimético das artes representativas exigia que o artista "imitasse" a natureza; com a jardinagem aquilo que era objeto vira também meio: o processo de produção e organização em um conjunto tem como elementos a própria natureza, embora organizados por uma vontade humana. Mas se o meio muda, muda também, com a arte dos jardins, o artista. Não é apenas o homem o artista; a natureza, de certa forma, também se mostra em sua capacidade criativa. É ela que trabalha, que cresce os galhos das árvores, que desenha as curvas dos cursos d'água, que alonga as sombras no inverno e as encurta no verão.
Sendo este o caso, a distinção antiga entre essência e aparência se põe de uma forma mais complicada. Não é mais a natureza que possui algo de verdadeiro que pode ser sujeito a réplica e imitação. É a natureza em si que se torna aparência; a própria aparência da natureza é, ao mesmo tempo, real e artificial. A jardinagem confunde as distinções entre modelo e cópia, essência e aparência, obra e artista, e mesmo a distinção entre arte e não-arte. Com isso, inaugura uma espécie de regime estético próprio, não "apenas" representativo, sujeito ao princípio da imitação, mas também não "apenas" estético, já que certa representação, em se tratando da natureza enquanto meio, parece inevitável.
A radicalidade da jardinagem está em que, por definição, ela opera fora dos regimes tradicionais da arte. O uso de um vocabulário originário da jardinagem para se reportar às dinâmicas das revoluções sociais se mostraria, portanto, especialmente apto a capturar uma sensibilidade política que se inaugura, segundo o Rancière, ao redor do fim do século XVIII, que associaria a política à estética (no sentido de que a questão política por excelência é aquela sobre a partilha do campo do "sensível"). Sendo assim, parece incorreto atribuir à jardinagem a ausência de politicidade, que a frase sobre a luta de classes sugere. Por se distanciar ao mesmo tempo das amarras da mera representação e da completa independência do juízo de gosto, a jardinagem seria, pelo contrário, a mais política das artes.
5 notes
·
View notes
Text
Nota sobre o cinismo
Queria tentar fazer sentido da reação ao FORA-TEMERCORE—o conjunto de símbolos, a gramática, o léxico e os repertórios de ação da esquerda na era Temer e início da era Bolsonaro no Brasil. Mais especificamente, queria tentar entender o que exatamente nos permite adotar a postura cínica que, me parece, tem sido adotada por parte relevante da opinião pública (pelo menos gen z, pelo menos no Twitter); a postura que nos permite achar aquela constelação de práticas da esquerda da década passada mais ou menos ridícula.
Claro que, para falar num nível mais superficial, é normal achar cringe aquilo que a gente estava fazendo há 5 ou 10 anos. Se não por qualquer outro motivo, pelo menos porque estamos mais velhos e alegadamente mais espertos, o que nos permite olhar para o passado de cima, depois de descobrir as implicações daquilo que fazíamos, e também informados por uma distância temporal que faz com que a expressão sensível das nossas preferências da década passada apareçam como fora de moda. Em um primeiro momento, é isso, a graça com o fora-temercore é a graça com a calça skinny, não coincidentemente também parte daquele universo expressivo que nos serviu (à minha geração de agora trintagenários, ao menos) como mundo. A troça com um vocabulário que está fora de moda.

Mas além disso, me parece que o contexto que permite esse cinismo tem outros elementos além da distância temporal e a mudança de moda. Eu queria avançar três hipóteses sobre essa questão, sem que nenhuma tenha precedência sobre as outras, e talvez inclusive com considerável sobreposição entre elas.
A primeira é a hipótese da simples derrota e consequente derrocada dos movimentos sociais de esquerda; a segunda é a hipótese do lulismo como espécie de fiador de um senso de normalidade liberal (que permite que toda manifestação de cunho visivelmente político seja reprovada como excrescência idealista); e a terceira é a da vitória e prevalência de um certo bolsonarismo de baixa intensidade entre a gen z e jovens millenials. De novo: talvez isso sejam três nomes para a mesma coisa, mas vou tentar ir por partes.
Ascensão e queda
Os anos 2010 foram a época do ápice do acesso ao ensino superior público e/ou gratuito no Brasil. "Nunca na história desse país" etc. E era isso mesmo. Nunca houve tanto dinheiro para botar gente que nunca esteve dentro da universidade dentro da universidade. Também para oferecer possibilidades de futura para parcelas da população para quem o trabalho assalariado e a "viração" (sua forma precarizada) eram os únicos horizontes de expectativas. Não que os horizontes, hoje, sejam minimamente diferentes disso, mas pelo menos naquela época havia certa expectativa; e havia expectativa porque havia condições materiais de havê-las, digamos assim. Tinha muita gente fazendo coisa em modelos mais criativos.
Esse tanto de gente nova agora com alguma instrução fez com que, em primeiro lugar, as experiências de exclusão e opressão específicas às camadas mais suprimidas da população tivessem uma posição mais central na nossa esfera pública online e offline daquela época. O circuito de textão do Facebook era parte desse contexto, mas também as festas de rua, as associações de cunho artístico-cultural, os protestos, as aulas públicas, as ocupações etc. A hegemonia de uma sensibilidade branca e de classe média era disputada por sensibilidades novas, que agora possuíam também os instrumentos do debate.
Em segundo lugar, a apropriação de um léxico e uma gramática "acadêmicos" permitiu que essas experiências que entraram no debate público passassem a ser articuladas com uma riqueza maior. Com o perdão pela referência anacrônica e anatópica, mas estava em jogo aquilo que o coletivo feminista negro Combahee River descrevia em seu manifesto de 1977 (os anos 1970 nos EUA foram uma espécie de nossos anos 2010 nesse sentido): "De início, o que nos uniu foi uma posição combinando antirracismo e antissexismo. À medida que nos desenvolvemos politicamente, nos voltamos também ao heterossexismo e à opressão econômica sob o capitalismo". Isto é, "à medida que nos desenvolvemos politicamente", à medida que um vocabulário novo surgia para dar conta das experiências de desrespeito e sofrimento de grupos que passavam a integrar o debate, as lutas históricas das camadas suprimidas passava a ser compreendida como partes de um mesmo todo. Não mais apenas "abaixo o capitalismo", mas também abaixo o racismo, o capacitismo, o etarismo, etc.
É a chacota com esse momento de desenvolvimento político que foram os anos 2010 que o cinismo me parece mais injusto. Principalmente porque esse movimento teve consequências longo prazo. Não é mais aceitável que um painel acadêmico que trate de "diversidade" seja composto por cinco homens brancos, por exemplo. Parece óbvio, mas já não foi. Hoje pelo menos há um vocabulário crítico disponível e amplamente adotado, resultado desse movimento dos anos 2010.
Os eventos que se sucederam (Dilma -> Temer -> Bolsonaro) significaram que o contexto que permitiu o florescimento desse novo vocabulário crítico simplesmente deixaram de existir. Tanto na universidade, um dos ambientes mais importantes desse momento, quanto fora dela, nos sindicatos (que foram extintos) e nas organizações adjacentes, que perderam momentum. Nesse sentido, não se trata propriamente de uma "falha" da esquerda fora-temer, mas de uma derrota. Isto é, os motivos da derrocada, me parece, foram mais externos do que internos. No fim, o resultado foi o sumiço desse caldeirão crítico. Estaríamos em uma espécie de diástole política depois de um momento de alta intensidade.
O lulismo como garante
A segunda hipótese diz respeito ao lulismo servir como uma espécie de fiador do sentimento de "normalidade". Não acho que eu precise descrever em detalhes o que isso significa. Enquanto Temer e Bolsonaro conseguiam aglutinar em si toda catástrofe que acontecia no país (e, por 'via negationis', mobilizar a esquerda contra um inimigo comum), Lula tem o poder de não conseguir. As catástrofes continuam, obviamente, mas, tipo, quem liga? O pior já passou.
Essa segurança simbólica que o lulismo proporciona à classe média afluente e às camadas remediadas (que, desnecessário dizer, tem um aspecto "material") torna qualquer articulação propriamente política de descontentamento social uma manifestação idealista, naive, ou própria às franjas do sistema político. Isto porque, uma vez reestabelecida a "normalidade" do sistema político institucional, ele é bastante para dar conta dos tipos de descontentamento que possam surgir. O que está alem disso é mera perfumaria.
Bolsonarismo de baixa intensidade
Talvez—e esta é a terceira hipótese—a vibe simplesmente tenha mudado (para pior). Depois das conquistas dos anos 2010, o ricochete político do bolsonarismo simplesmente chegou para ficar por mais tempo do que os quatro anos de governo. Não que a postura cínica seja própria do bolsonarismo cultural, mas o bolsonarismo pelo menos sabe fazer bom uso de uma sensibilidade que despreza qualquer relação sincera com o mundo.
Sei que esse é um vespeiro, mas acho que a própria ressurgência de uma cultura do corpo é reflexo desse bolsonarismo de baixa intensidade. A smartfitização da classe média "meio intelectual, meio de esquerda", que agora está mais preocupada em ficar gostosa (e saudável!) é um flagrante dessa vibe shift dos anos 2020 em relação aos anos 2010. Na década passada era mais legal se aceitar do jeito que se é, hoje é mais legal ser o mais saudável possível. Nada contra saúde, obviamente, nem com ficar gostoso, mas acho que toda cultura do corpo tem em si um lado meio cruel, porque tenta trazer para o campo reflexivo da vontade racional e do interesse no aperfeiçoamento algo que está muito próximo de um campo "natural" e frequentemente pouco manipulável. Não sei se consigo elaborar melhor; vou deixar esta citação do Reinhard Lettau: "A Califórnia é tudo o que eu não gosto: tem muito sol, todo mundo é saudável e a saúde é considerada algo bonito. Já a saúde, para mim, não é nada bonita. Eu cresci na Alemanha nazista. Cresci doente e cansado da 'saúde'".
Claro que tem algo aparentemente muito promissor em terceirizar o pensamento para o desempenho físico e virar um himbo ou uma bimbo. Está todo mundo exausto, ultra-explorado e tendo que trabalhar todos os dias enquanto o mundo simplesmente acaba. De um ponto de vista individual, é perfeitamente compreensível essa postura derrotista e o recurso a um hedonismo consumista e auto-centrado. A crítica não é à escolha individual desta ou daquela preferência, mas ao fato de que a patologia do bolsonarismo se desenvolve justamente num caldo de exaustão, quando a postura cínica do hedonista auto-interessado parece muito mais convincente do que qualquer engajamento sincero com o mundo social (que em dez anos vai parecer brega de novo).
45 notes
·
View notes
Text
Nota sobre distinção, ambição aristocrática e fim do trabalho
Simmel resolveu, de certa forma, uma contradição fundamental na auto-compreensão moderna do mundo: aquela entre distinção—o desejo de ser único (Baudelaire, Veblen)—e integração—o desejo de pertencer a um grupo, de reproduzir as normas sociais (Weber). São desejos fundamentalmente modernos porque nascem com a consolidação da cidade moderna, caracterizada pela experiência (primeiro industrial, depois burocrática) da repetição, da regularidade e do achatamento da experiência do cotidiano.
Para o Simmel, o ponto de convergência dos dois pólos dessa tensão está na moda. A moda, para o Simmel, é precisamente a forma como nós, humanos em sociedades modernas, engajamos, ao mesmo tempo, com essas duas coisas. Quer dizer, através da moda, nós, indivíduos, nos distinguimos de outros indivíduos através de processos estéticos de auto-estilização. Ao mesmo tempo, nos integramos a uma rede de expectativas compartilhadas de comportamento. A moda, nesse sentido, serve como processo de integração. Ela é feita de tendências, de estilos mais ou menos adequados, de modos mais ou menos apropriados, de normas a serem seguidas. É, por definição, um empreendimento fundamentalmente coletivo. Ao mesmo tempo, é a nossa forma de afirmação de individualidade.
A moda está na encruzilhada entre a tendência (aristocrática) à distinção e a pressão (democrática) pela homogeneidade. Afeta, portanto, todas as classes. (Moda é necessariamente moda de classe, diria o Simmel). E por ter uma natureza aspiracional (você se veste e se comporta a partir das referências deixadas por alguém, ou alguma classe de alguéns que você respeita), a moda é também geradora de uma espécie de mal-estar. Isto é, ninguém nunca está muito confortável com seu próprio estilo, e o estilo do vizinho (de cima) sempre é melhor. Assim como a gente sempre quer estar fazendo outra coisa em qualquer momento do dia, também, de certa forma, quer sempre estar sendo de um jeito diferente. Estamos sempre, de certa forma, “dressing up”.
Nesse contexto, há uma tendência da burguesia de querer virar aristocrata. Uma tendência, para colocar em outros termos, das classes médias afluentes ou mesmo das classes superiores em se tornarem aposentados. Quem explica isso muito bem em termos econômicos é o Wallerstein em Burguês(ia) como Conceito e Realidade. Nesse artigo, ele explica essa tendência das classes médias—as classes que não são parte da aristocracia, mas que formam uma espécie de classe intermediária confortável nas sociedades modernas—de buscarem a transformação do modo de produção de lucro da compra e venda para a extração de renda. Ou seja, em vez de comprar e vender com lucro (método associado à identidade da burguesia traditional), a tendência dessas classes é buscarem manter propriedade e extrair renda dela: em vez de vendê-las, cobrar pelo seu uso. (Aliás, o vocabulário do Wallerstein, que chama as classes médias de “burguesas” e as altas de “aristocráticas”, informa a terminologia desta minha nota).
Me parece que no campo estético há uma relação homóloga. Uma tendência das classes médias confortáveis de abdicar do tradicional estilo burguês-protestante (ter um passado fodido, trabalhar muito e comprar um lugar no céu) e almejarem o estilo rentista do aposentado (herdar uma bolada e passar a vida na beira da praia em Aruba/esquiando em Aspen/sentado num pelego em Gramado). Obviamente, isso não é propriamente novo. O tratamento que o Bourdieu deu ao conceito de “distinção” chega à conclusão de que as classes médias almejam ao estilo das classes superiores. As classes inferiores, o das classes médias. E as classes superiores, um estilo novo que ainda não tenha sido copiado. Para o Bourdieu, o gosto (e, por associação, as ambições de estilo) ��trickles down”, isto é, as classes inferiores ambicionam o estilo das classes superiores.

Se esse é o caso, então estamos todos sempre mais ou menos desconfortáveis nas nossas próprias roupas. Principalmente as classes médias, por motivos já explicados alhures. São as classes médias que têm os modos aristocráticos (em outros termos, o estilo de vida rentista, o lazer eterno) como horizonte de ambição. A identidade das classes médias é, então, sempre um problema.
O que resta investigar, me parece, é a relação dessas diferentes disposições de classe com o trabalho. As discussões recentes sobre trabalho, automação, renda básica, trabalho como forma de reprodução social etc.—me parece—devem considerar que a recusa ao trabalho não é necessariamente uma posição que se situa nas franjas do espectro político, e se são radicais, o são no sentido de que estão na raiz da auto-compreensão do sujeito burguês. Isto é, a burguesia, por definição, e em função da estrutura de formação de ambições da sociedade moderna, *tende* a querer se comportar como a aristocracia: economicamente, isso significa viver de renda. Em termos de estilo, significa viver de férias.
As classes médias são ao mesmo tempo “remediadas”, portanto definidas negativamente em relação às classes trabalhadoras, e “ambicionantes”, portanto o negativo das classes altas. Em termos definicionais, estão em uma posição precária. Tendem a dois extremos que não a incluem. A tendência de ambicionarem à vida do lazer aristocrata, de certa forma, está presente desde o princípio—é o que os sociólogos nos dizem. Mas talvez só seja tão plenamente visível—de modo que seja quase óbvio apontar que as classes médias gostariam de viver aposentadas—em um contexto que as force à inexistência, à negatividade latente presente desde sempre: um contexto de imensa concentração de renda e precarização do trabalho.
A negação do trabalho, para resumir, está em gérmen na própria auto-concepção da burguesia enquanto classe média. É fundamentalmente moderna. A ambição burguesa sempre foi ser aristocrata, embora talvez isso só tenha se tornado plenamente visível recentemente. A consecução do fim do trabalho, de certa forma, seria um mero desdobramento natural das revoluções burguesas do século XVIII.
7 notes
·
View notes
Text
Nota sobre literatura regional
"The sun is still high up". Hoje vim para o quinto andar do prédio onde trabalho, ler um pouco do livro que estou lendo, In the Heart of the Heart of the Country, do William Gass. O quinto andar tem uma vista melhor do que a do terceiro, onde fica o meu cubículo e o departamento de filosofia, e janelas maiores que dão para os outros prédios da universidade e para o lago.
De onde estou sentado vejo bem na minha frente um friso no alto da parede de pedra da biblioteca, onde está escrito "Hegel" em baixo-relevo. Do lado esquerdo do Hegel, os nomes "Plato" e "Duns Scotus". À direita, "Locke" e "Kierkeg—". O "—aard" está coberto por uma árvore.
Faz um dia bonito de inverno, que combina com o livro do Gass. São pouco mais de duas horas da tarde, e o sol está ainda "high up in the sky".
Foi essa frase que me deixou pensando. A frase me ocorreu em inglês. Pensei no sol estando "high up", não "alto" ou "alto no céu", como talvez eu tentaria traduzi-la. Não era um "sol bem alto no céu", mas um "sun high up in the sky". Sou o primeiro a apontar os anglicismos nos textos que leio ou que reviso. Principalmente em traduções. Mas não sei se eu conseguiria achar uma alternativa melhor do que esta, melhor do que "o sol ainda está alto no céu", que é precária, e não foi o que eu pensei.
O sentido da frase talvez seja próprio demais a uma experiência articulada no inverno de Illinois, e portanto, ao menos em algum sentido muito específico, necessariamente exprimível em inglês. O sol ainda estar "high up" significa que eu vejo o sol, o que não é tão corriqueiro no inverno. Significa também que o solstício de inverno já passou, e que agora os dias começam a ficar mais compridos, embora o frio permaneça conosco por ainda um bom tempo.
Olhando em retrospecto (um "specto" de algo que aconteceu há muito pouco tempo), talvez não tenha sido uma completa coincidência que esse pensamento tenha me ocorrido enquanto eu lia—ou, melhor, enquanto não lia, mas olhava pela janela enquanto segurava nas mãos—o In the Heart of the Heart of the Country. A linguagem do livro é própria dos modos de falar de um interior branco e pobre dos Estados Unidos. Uma espécie de literatura regional, embora o gênero tenha adquirido uma qualidade de gênero nacional por aqui.
Fiquei pensando sobre o meu uso de anglicismos. Nunca gostei muito deles, ou talvez ainda não goste, por achá-los uma solução ou preguiçosa, por falta de vontade de procurar palavras ou expressões melhores, ou presunçosa, numa espécie de tentativa goffmaniana de causar no público ou no leitor a impressão de que o autor possui algum tipo de capital cultural valioso—conhecer aspectos "intraduzíveis" de uma língua.
A minha pergunta para mim mesmo, eu acho, é sobre a minha própria literatura, ou escritura, regional. Qual é a minha região? Me sinto em casa em Três Coroas, e com o vocabulário de Três Coroas, com os problemas de lá. Em Porto Alegre também, por motivos diferentes mas de uma maneira muito parecida. E depois, me sinto um pouco em casa nesse espaço internacional de circulação de ideias que é a língua inglesa. Agora esse espaço é aqui em Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, mas já foi em outros lugares. E escrever a partir de um vocabulário e sobre questões de Três Coroas ou Porto Alegre, em português, me parece aceitável, justificável, correto, enquanto não me sinto autorizado a fazer o mesmo a partir desse terceiro espaço.
E acho que "terceiro espaço" é um nome bom, porque não se trata nem do primeiro espaço, privado, imediato, familiar, nem de um segundo espaço, público, compartilhado, profissional, mas de uma terceira coisa. (Quase escrevi 'de uma secret third thing', mas não me senti autorizado, ou me senti idiota, não sei).
A dificuldade está em me sentir autorizado a escrever em uma língua e com uma linguagem que sejam "minhas", escrever a partir de um lugar "regionalmente" situado, mas sem soar pedante, ou ridículo, ou preguiçoso por me apropriar de uma "terceira" região. Talvez seja uma dificuldade merecida. Não sei. Ou talvez também seja esse o conflito de todo mundo que quer escrever de um ponto de vista "regional".
1 note
·
View note
Text
Two questions on Hegel's Aesthetics
THE PARTICULARITIES OF AESTHETICS
From the beginning, Hegel makes it clear that aesthetics is the realm of the beautiful. More precisely, the realm of art, or fine art. (1) He will proceed with a delimitation of his work, and a defense of the philosophical study of fine arts against some common objections. The reason why aesthetics should not concern nature, but only human products, seems to come from Hegel’s notion of spirit. In nature, everything is pre-determined, necessary, and necessarily connected to its surroundings. And to the extent that everything is connected to everything else in a necessary manner, beauty cannot be perceived—to use Hegel’s words—in itself (2). We can speak of nature’s utility, but beauty in nature is a more complicated thing. Beauty requires freedom, and the proper realm of freedom is that of human creation, of culture, ideas, and reflection—which Hegel calls “spirit”. It is only in the human realm of creativity that freedom can take shape.
Hegel sustains the study of aesthetics against certain objections. The first is the view that art is somewhat superfluous, and therefore does not merit the seriousness of a scientific inquiry (3). Then, that art presents itself to sense, feeling, and imagination, and that it would be a mistake to try to grasp it intellectually (5). Rejecting these views, Hegel seems to separate fine art from any type of decorative arts, which would not be independent, but ancillary to ends such as entertainment or recreation. To that type of art, Hegel distinguishes art that is “free in its end and its means” (7). Free art, for Hegel, is close to philosophy and religion in its propensity to engage with spirit, expressing its “most comprehensive truths” (7). Art—to quote from page 7—“displays even the highest reality sensuously, bringing it thereby nearer to the senses, to feeling, and to nature’s mode of appearance” (7–8).
It's different from philosophy and religion, however, because—unlike philosophy—it does not express these truths in the form of concepts, and—unlike religion—in the form of images of faith, but does so in man-made objects created specifically for the purpose of this representation. And this is, perhaps, its limitation. To quote from p. 9, Hegel says [last paragraph] “Neither in content nor in form is art the highest and absolute mode of bringing to our minds the true interests of the spirit. For precisely on account of its form, art is limited to a specific content. Only one sphere and stage of truth is capable of being represented in the element of art.” (9)
Art mediates, as I understand it, between the universal realm of spirit, of conceptual thinking, of reason, and the particular realm of the sensuous, the imaginative, and the concrete. (8). It represents universal ideas, but is always limited by a specific content to be represented in a specific way. The results of this mediation are artworks.
I find it interesting that Hegel seems to be trying to carve out a space for art and its philosophical study that is protected from the unfreedom of nature, but at the same time he is always marking the deficiencies of art in its role to represent spirit, or highlighting the limitations that artworks have. In a certain sense, art shares its aim with philosophy but is always behind it. On page 10, Hegel explains that in modernity, we do not venerate artistic images anymore. We relate to artworks in a reflective manner. And that being the case, the “highest vocation” of art—to use his words from page 11, is somewhat obsolete:

And this is my first question. Is Hegel defending here the view that art is obsolete? Is there any implicit hierarchization of art and philosophy, where art is always necessarily inferior?
THE CONCEPT OF THE BEAUTIFUL
When Hegel discusses the ways of treating art scientifically, he speaks of the empirical mode of investigation, the path—he says—of someone who wants to become a scholar in the field of art, an art historian, or a theorist. To that, he opposes a purely theoretical reflection on the concept of the beautiful. Hegel speaks of the latter using terms such as “the Idea”, “the Idea in general”, or “the Idea of the beautiful”, “Concept” (with a capital C in the translation).
His position seems to be one between the two opposing sides. While Hegel subscribes to the Platonic vocabulary of “Idea” and agrees with the need to speak of art in its universal aspect, he seems conscious that this method risks falling into what he calls an “abstract metaphysics” (22). Opposing the mere role of the historian of art—who knows about different art styles, media and historical contexts—and the abstract metaphysician—who discusses the concept of the beautiful regardless of any concrete manifestation [and Kant might be the figure in the background here]—opposing these views, Hegel states the following (p. 22):
We must grasp this Idea more concretely, more profoundly, since the emptiness, which clings to the Platonic Idea, no longer satisfies the richer philosophical needs of our spirit today. […] The philosophical Concept of the beautiful, to indicate its true nature at least in a preliminary way, must contain, reconciled within itself, both the extremes which have been mentioned, because it unites metaphysical universality with the precision of real particularity. (22)
In sum, as I understand it, Hegel is opposing both the empiricist view, according to which art and the beautiful can only be known via concrete examples, and the transcendental view—or abstract view—according to which the beautiful has to be defined theoretically. In his own mode, Hegel starts with the Idea, and proceeds with a deductive method toward more concreteness.
He first has to establish the Concept of the beautiful—more specifically, of beauty in art. He says this has been done elsewhere, in the Encyclopedia, and that the concept of the beautiful has to be taken as a presupposition here. Hegel’s method is interesting in that he seems to be adding historical content to the abstract Concept. When he discusses the modes of investigating art, or the evolution of art production, he is situating the idea of the beautiful historically, which seems to be necessary for art, since—unlike philosophy or religion—it is always limited to a specific mode of presentation, a specific medium (and later Hegel will speak of the forms of art and the kinds of art).
This particular view of the place of beauty—not in nature or in random instances, but also not in abstract thinking only leads Hegel to take issue with Kant’s views on aesthetics. For Kant, beauty and sublimity are a matter of judgment. Kant is concerned with the conditions of possibility of us finding something beautiful. When I judge an object to be beautiful, what guarantees that my judgment is correct? Can we disagree about whether something is beautiful or not? How universal is this judgment? All these questions, for Hegel, pertain to a subjective level. For Kant, it’s impossible to say that an object is objectively beautiful, as this predicate cannot belong to the object without a previous subjective judgment.
For Hegel, on the other hand, there is no clear opposition between a thinking subject and an objective thing, or, in his words, between “abstract universality and sensuous individuality” (56). He is trying to find a “reconciliation” between those two realms, and he thinks Kant’s solution is merely “subjective” (60). That is—it regards only the thinking subject, but not the object. In Schiller, Hegel says, this opposition is broken. The beautiful is defined as the mutual imbrication of the rational and the sensuous. And this relationship is taken to be objectively real, as opposed to merely subjectively, for the judging subject.
One question here is about how Hegel sees himself in this historical reconstruction. Does he think Schiller got it right by surpassing Kant’s formalism and opposition or is the problem only resolved by Hegel himself? If so, then what did Schiller get wrong?
1 note
·
View note
Text
Notes on Kracauer's The Mass Ornament (1927)
I
Kracauer begins his essay by justifying the study of seemingly irrelevant, secondary, or marginal cultural phenomena, which he calls “surface-level expressions” Rather than seeking the self-understanding of a particular epoch in its reflexive abstractions - in the way it appears in thought or philosophy—surface-level expressions, Kracauer argues, “provide unmediated access to the fundamental substance of the state of things.” By looking at seemingly marginal, peripheral expressions of a particular culture, we are able to grasp certain unconscious tendencies of that culture, and thus to grasp the tendencies of an epoch.
He is concerned in this essay with the phenomenon of the Tiller Girls. As the editor writes in an endnote, these groups of militarily trained dance girls first appeared in the late 19th century, and soon became popular in Paris, London, New York, and other major cities in the United States and Europe. These groups performed strictly choreographed numbers, danced in chorus lines, and were known for their synchronized movements.
Kracauer is interested in this phenomenon because in many ways it resembles the state of contemporary mass society. And “mass ornament” is what he calls the reflection of this society in the aesthetic sphere.
II
The mass ornament is the end result of the process of creating an impression. More specifically, it is a reflection of the fundamental forms of mass society. The patterns formed by the dancing girls, for example, are self-referential and out of context. They form mere “building blocks”, as opposed to complete wholes. This feature of the dance numbers would be homologous to mass society itself, in which people are reduced to building blocks of more complex structures, cogs in a capitalist machine.
It’s what remains when an aesthetic phenomenon is emptied of all content - or all “substantial constructs,” as Kracauer puts it. This minimalist result, Kracauer says, must be thought in terms of its “reason.” And he uses the Latin word “ratio” here to make clear that he is speaking of a mathematical and strategic kind of reason, a capitalist reason that is also present more broadly in the organization of social life and in the production of commodities. This reason no longer contains “organic forms” or “emanations of spiritual life.” It is, I think, not “Vernunft” but a kind of corruption of it.
Kracauer distinguishes the Tiller Girls’ numbers from other expressions of precision and choreography, such as a military parade. Unlike the parade, the mass ornament has no further purpose. It does not serve to arouse patriotic feelings in the soldiers and the general population. The star and line formations of the dancing girls have no meaning, nor are they made for any other purpose; they are an “end in itself” (76). According to Kracauer, the show takes place “in a vacuum” (77).
He seems to find a similarity between the mass ornament, represented by the calculability and mathematical organization of the Tiller Girls, and the “contemporary situation”, as he calls it. The capitalist mode of production, which sets the tone in both social organization and cultural production, does away with nature and community. Here I quote from page 78:
“The structure of the mass ornament reflects that of the entire contemporary situation. Since the principle of the capitalist production process does not arise purely out of nature, it must destroy thenatural organisms that it regards either as means or as resistance. Community and personalityperish when what is demanded is calculability; [then, skipping a line…] A system oblivious to differences in form leads on its own to the blurring of national characteristics and to the production of worker masses that can be employed equally well at any point on the globe.” (78)
The key terms here are “natural organisms,” “community,” and “personality.” These I take to be what the new forms of capitalist reason threaten to eradicate. A little later, on page 83, he says, and I quote again, that
“The human figure enlisted in the mass ornament has begun the exodus from lush organic splendour and the constitution of individuality toward the realm of anonymity to which it relinquishes itself when it stands in truth and when the knowledge radiating from the basis of man dissolves the contours of visible natural form. In the mass ornament nature is deprived of its substance" […and so on.]
Here, too, there is the contrast between organicity, the natural form, individuality, and, on the other hand, anonymity, calculability, and the mass.
III
There are a couple of sections that Kracauer devotes to a critique of capitalist reason as a complicated negotiation with mythological thought. This is particularly interesting because it was written 20 years before Adorno and Horkheimer’s Dialectic of Enlightenment, a book that posits that reason or the Enlightenment ends up reverting back to mythological thought. Kracauer argues that the historical process itself is a struggle between ( and I quote from page 79, first paragraph of section 3) “a weak and distant reason and the forces of nature that ruled over heaven and earth in the myths.” (79). Reason comes into the world to introduce truth (80). Once this happens, the historical process becomes one of demythologization, of which the capitalist epoch is a stage. But capitalist reason does not fully rationalize things. It stops halfway on the level of abstract thought. In doing so, capitalist reason - ratio - is not able to grasp the actual and concrete substance of life.
This development seems to suggest that a reaction to the precarious and prejudicial capitalist reason would be either a return to mythological thinking, in which case the struggle would be decided on the side of concreteness, or a defense of reason, in which case the struggle would be decided on the side of abstractness. “Present-day thinking”, he says in the first new paragraph on page 82, “is confronted with the question as to whether it should open itself up to reason or continue to push on against it without opening up at all.” (82). This dichotomy, however, seems to be false. Kracauer argues that while capitalist reason exacerbates abstract thinking, which does away with individuality, personality, and community, a mere return to mythological thinking would not eliminate abstractness, but only reinforce a different kind of domination.
IV
I believe this is what leads Kracauer to take a position that’s is not merely a rejection of the cultural products of capitalist reason. “The mass ornament,” he says, “is ambivalent” (83). Kracauer criticizes other intellectuals who reject the mass ornament outright as a mere distraction of the masses. And I’d like to quote this long-ish passage from page 79:
“Educated people—who are never entirely absent—have taken offense at the emergence of the Tiller Girls and the stadium images. They judge anything that entertains the crowd to be a distraction of that crowd. But despite what they think, the aesthetic pleasure gained from ornamental mass movements is legitimate. Such movements are in fact among the rare creations of the age that bestow form upon a given material. The masses organized in these movements come from offices and factories; the formal principle according to which they are molded determines them in reality as well. When significant components of reality become invisible in our world, art must make do with what is left, for an aesthetic presentation is all the more real the less it dispenses with the reality outside the aesthetic sphere. No matter how low one gauges the value of the mass ornament, its degree of reality is still higher than that of artistic productions which cultivate outdated noble sentiments in obsolete forms—even if it means nothing more than that.” (79)
Kracauer’s way out of the false dichotomy between a return to myth and a defense of capitalist reason is a materialist one: It’s naïve to expect the mass ornament to be anything other than a reflection (albeit reified) of the experience of the masses. To the extent that the experience of abstraction and massification characterizes the daily life of industrial and office workers in a capitalist society, its aesthetic enjoyment by the mass is legitimate. It would be unreasonable that the mass did not take aesthetic pleasure in this kind of cultural product. Rather than rejecting the mass ornament, what’s called for is a change in the economic system that produces it.
0 notes
Text
The Lecture Nut
This is an essay by Vanessa Barbara originally published in Portuguese. Translated here without consent.
Last December, Brazilian writer André Czarnobai—Cardoso—published a short essay entitled “Pasfundo calipígia.” If I am not mistaken, this was the first time the term “lecture nut” was used in print. Immediately, it gained scholarly significance and became popular on Brazilian university campuses, stimulating dormant nuts and alerting the public health system to the problem.
The lecture nut is the individual who, during a lecture, raises his hand to ask a completely random question. Or to make a long and meaningless remark about anything that comes to mind. He is the delight of bored listeners and the nightmare of speakers, who spend the entire event waiting for his inevitable appearance, as if ready to face death itself.
There are myriad categories of lecture nuts, which attentive eyes and ears can identify in any event of argumentative or reflective nature in which the audience can speak.
There is the classic nut: the one who stands up, gives a long speech on any subject, rarely addresses the topic being discussed, and concludes without asking any specific questions. His only goal is to intellectually impress the plebs, including the official speaker. He always asks permission to “make a remark.”
There is the militant nut, who always seizes the opportunity to blame the exploitation by the ruling class, even when the subject of debate is tapestry and embroidery.
There is the disoriented nut, who understood nothing of the lecture—and hasn’t since second grade, when the teacher told him that the sun is bigger than the earth—and who, after going around in circles, asks an obvious question.
There the one who’s careful to include the word “surreptitiously” in his speech: the vernacularist nut.
A careful classification of our object of inquiry cannot omit the conspiracy nut, who, according to members of the conspiracy itself, is “the one who believes that the press meets every night with the government or the opposition to get the bag of money.”
Or the sycophant nut, who spends the thirty seconds allotted to him telling in ten minutes how divine the speaker is. The Deleuzian nut, who doesn’t know what he is talking about but uses the word “rhizome” a lot. And the poor poor pitiful nut, who apologizes for not knowing how to express himself, which does not stop him from not expressing himself for endless minutes.
After saying “I would like to make a remark,” anyone can use the expression “in the key of...”. As in this typical remark, “Journalism, understood in the key of sociology, is undoubtedly a rhizomatic occupation, in terms of its coming-to-be.” There are few who say that something happens because of something else. It is always “on account of” the something else in question.
For Cardoso, it is uncommon for a lecture nut not to be lying in wait whenever he is lecturing (or sitting on a panel, having a debate, or even sitting in the audience). The most recent case occurred at a meeting of bloggers and editors in São Paulo. On that occasion, a colleague who had been listening attentively—but silently—until then asked for permission to speak. “First of all, I would like to say that I am not a blogger, I don’t read blogs, I don’t understand anything about these things, but I too have the right to an opinion,” he said by way of introduction.
And the nut went on: “I am a community doctor, I organize soirées in the suburbs, and I want to say that I disagree with everything that’s been said here. Everyone is sucking up to Companhia das Letras,” a local publishing house.
And he added: “The publisher’s blog is very ugly. It doesn’t look like a blog. It looks more like a website, and I don’t think anyone wants to read about the behind-the-scenes of how books are made.”
In a few minutes, he brazenly refuted everything that had been postulated up to that point. This is the majestic nut, who listens to the lecture with an air of superiority and finds it’s all big, fat stupidity.
A good lecture nut is always the last to speak, since he spends all his time digesting what has been said. Only then can he make a statement that’s unrelated to the topic, mistaken, ill-intentioned, or just plain unintelligible. According to journalist Matinas Suzuki, the character contemplates the discussion with contempt, waits patiently for his turn, and then disagrees with virulence. “Correct me if I’m wrong,” he says at one point, to sound democratic. “I agree with everything you said, but the other way around,” he continues. Or yet: “My comment includes and expands on my colleague’s,” in a typical condescending comment of the student movement meeting nuts.
One must distinguish between the lecture nut and the student movement or union nut. In the latter, there is no speaker; everyone has the right to sign up and speak without necessarily having to stick to a theme.
According to one survey, one of the best-known representatives of this category in the 1970s was Gilson, an economics student at the University of São Paulo. He was a chubby Trotskyite with a thin voice and sparse mustache. The other was Reinaldinho, a social sciences student who, no matter what the topic, always found a way to insert the phrase: “The concrete is the synthesis of several determinations.” That is true. Even Marx knew that. But to repeat the idea in all the assemblies of the student movement of the 1970s would be too much even for Engels.
Although these two categories of nut (“lecture” vs. “student movement”) are distinguished for obvious reasons, there is the possibility of infiltration of lecture nuts into a typical student/union assembly. The infiltrator is usually the one who takes the microphone without the consent of the others and announces, “Point of order!” even if the request is unfounded. From then on, the performance is unrestrained.
That’s how lecture nuts are: reckless, unpredictable, ruthless, devoid of any sense or clue. Cardoso also recalls a debate in Curitiba, in southern Brazil, when “a gray-haired man with a shoulder bag in front of his chest and the look of a yoga teacher proclaimed that ‘the Internet is like a magic cow from which everyone gets the milk they want.’“
Unfortunately, that is all he remembers from that long and bizarre remark.
There are those who come across a contemplative nut, one of the most difficult to deal with, especially when you’re chairing a panel for the first time. That’s what happened to writer and editor Emilio Fraia, who chaired a debate between filmmaker Hector Babenco and writer William Kennedy in São Paulo on August 11, 2010, while nervously flipping through dozens of yellow papers.
“First, this lady raised her hand and said, ‘I have a question,’“ Emilio Fraia said with the acuity of someone struggling with post-traumatic stress disorder. “Then she said she didn’t know why she was there. She saw there was a lecture and walked inside. The girl was from another state, Minas Gerais, and had been alone in a hotel room for four days. “But I really like what Mr. Kennedy said about being rejected by thirteen publishers before being published. I’m an artist.”
At that moment, boos from the audience began, “Question!” Undaunted, she made no bones about it, “I have a work based on color and...” More boos and jeers.
At the end of her speech, Fraia could show no reaction. He turned red, paralyzed. “Until the lecture ended on its own. That was the end, nothing could happen after that speech,” he says.
Another recent case of a contemplative nut occurred recently during a lecture by writer Fred Vargas in Rio de Janeiro about the story of Cesare Battisti, an Italian revolutionary who received refuge from the Brazilian government. One man came forward and spoke for twenty minutes about his activism in northeastern Brazil in the 1950s, without mentioning Battisti’s name once.
With that kind of nut in view, cartoonist Laerte Coutinho confessed to wondering what the nuts themselves would take away from the experience. “I think it all comes down to their own participation,” Laerte philosophized. And she added a theory: of the debates, the lecture nut might only remember their own performance. “Remember that time in Curitiba when I raised my hand and compared the Internet to a magic cow?” the subject would say delightedly at the meeting of a hypothetical Unified Lecture Nut Support Group.
What few know is that the origin of the lecture nut goes back in the history of thought. “I believe it first appeared in the Greek agora: Democracy is full of lecture nuts,” posits editor Milton Ohata.
In the play The Clouds (423 B.C.), for example, the playwright Aristophanes pokes fun at the Sophists—the most prominent lecture nuts of classical Greece. At that time there were already “prophets, chiropractors, hairy young men, dithyrambic poets, astrologers, charlatans, impostors, and many others,” says the script. People who have surrendered to the rapture of discourse and the lust for articulation, a bunch of skillful swindlers, verbose and shameless. Like Chaerephon, a disciple of Socrates, who once raised his hand and asked the master, “From which end of the mosquito does the buzzing come?”
In ancient Palestine, perhaps during the Sermon on the Mount, there were probably lecture nuts ready to act. One of the questions thrown at the Son of God that doesn’t appear in the canonical record would have been, “So, how do you like it here in Capernaum?”
Speculation aside, one thing is certain: it was a Pharisee lecture nut who approached the Messiah with a malicious question and received in response, “Render unto Caesar what is Caesar’s, and unto God what is God’s” A divine response to a malicious interlocutor.
This brings us to the difficult role of the panel chair. It is well known that the chair has few options when confronted with a lecture nut. One is to take a predetermined escape route, throw her arms in the air, and leave the audience to its fate. The second is Emilio Fraia’s preferred solution: complete and resigned paralysis, followed by an early end of the lecture and acceptance of ruin. In a slightly more elegant variant, the facilitator can utter an embarrassed “That’s indeed a question” and end the lecture with a certain air of mystery.
The third way out is to play crazy and ignore the speech altogether. This tactic is defended by seasoned speakers such as journalist Humberto Werneck. During a talk about his book O Santo Sujo(The Dirty Saint) in Belo Horizonte, a young man requested the floor and didn’t ask any questions—he rambled on about things no one understood. “I think he was a little crazy, and I didn’t do anything wrong waiting for him to empty his verbal pool. It took several minutes. The guy finished with no question mark. I thanked him for his participation and moved on to the next questioner,” he says, without embarrassment.
The fourth and last possible reaction is the most artistic and professional of all. Experienced chairs such as art critic Alberto Tassinari are skilled in this technique. He says he has a lot of patience when a nut says something, “because it always touches on something that can be answered, and the dialog ends up oscillating between, on the one hand, its intrinsic rationality and, on the other, the irrationality that comes from outside, out of time, and renders almost everything useless.”
Professor Samuel Titan Jr. of the University of São Paulo is part of the same team. “My favorite nut starts by asking to make a remark and immediately embarks on self-promotion, which can be pseudo-academic, pseudo-literary, or of resentful nature (in the variables of race, gender, class, sexual orientation or all of the above),” he reveals with the wisdom that comes from experience.
In these cases, he advises that the only way out of the situation is to “respond with something that has nothing to do with what the person said, but that has something to do with what you were trying to say, all while looking into the creature’s eyes and using some difficult words to see if they feel intimidated – generally, they don’t.
One must look at these things philosophically, says Titan, who dealt with a fine representative of the species a few months ago.
The episode occurred on March 25, 2010, at Casa do Saber, a cultural center in São Paulo, during a debate on literary essays. Present were architect Guilherme Wisnik, artist Nuno Ramos, Matinas Suzuki Jr. and, as mediator, Samuel Titan Jr.
The video recording of the colloquium is a tragicomic masterpiece. By a happy coincidence, the camera remains focused on the four speakers during the long peroration of a girl in the audience, who must have taken a breath before standing up. Each of the aforementioned intellectuals reacts in his own way, scratching his head, rubbing his nose, looking up and trying desperately to keep his composure in the face of such an alarming occurrence.
The intervention takes place in two phases. In the first, which lasts almost five minutes, the girl shows her energy: “My question is about places and borders,” she begins, in a didactic tone that assumes prior reflection on the subject. “I see the essay as a free spirit of thought expressed in written form. So I think it deserves a place of prominence, but from what I see in the discussion, from the debate among you, there is a question of place and borders when we talk about a place called ‘among us,’ or when we talk about Brazil, the world, and, going even further beyond those borders, reality itself.”
Dominated by an understandable gut reflex, Nuno Ramos begins to drink water compulsively. Samuel Titan alternates between vigorous head scratching and distracted removal of the skin around his fingernails. In everyone’s heart, there is hope that the question will not be long in coming. The girl continues, “I see the essay as this free spirit of written thought, because it goes beyond written thought, reaching into reality, with all this freedom of connections between subjects, and not just intellectual or conceptual or academic subjects, but the events of reality itself.”
Oddly, the four speakers lean on their left elbows, leaning back in their chairs and folding their arms as if to defend themselves against the avalanche of concepts mercilessly thrown at them.
And the girl continues, “So I see a way to resolve these dilemmas, these questions that have been presented, and considering what has been discussed among you, that writers should present themselves as free spirits.”
It is worth pointing out that she refers to the discussion and promises to stick to what has been debated, as if to distract the audience. But then she continues, “Creating as if a wave, the essay as a stone that falls into the water and creates waves of not only what it sets out to do, but going beyond. Going beyond the subjectivity of the person who writes, or the arsenal of limited academic knowledge, so the Brazilian essay itself must take the stance of breaking through that boundary and placing itself as a point of convergence of forces that are present in the world today, politically, literarily, scientifically, artistically.”
After that questionless speech, Samuel Titan interrupts the girl and does what he can to get the debate going. The speakers comment on an alleged “comfort zone” in Brazilian essayism, a term the girl happens to mention in her own context. It looks like the debate is off to a good start. But it isn’t: in a moment of inattention of the chair, the girl from the audience catches him off guard and manages to resume her reasoning: “I have seen some very rich things,” she interrupts, and again abuses the adverbs: politically, literarily, scientifically.
This is the second moment of her treatise, in which she concludes, in summary, that it is necessary to cultivate an essay “that also dilutes, also fights surreptitiously. There has to be the courage to get out of the comfort zone, break through those boundaries to create new ones, and make a difference in reality.” This is how her speech ends, and with it the debate.
After seeing Nuno Ramos drinking so much water, one feared that he might have a congestion.
The legend is diffuse, but it must have happened in the 1960s during a lecture by Professor Bento Prado Jr. at the Department of Philosophy. At the end of his explanation, in which the professor quoted the philosopher Plotinus several times, a student respectfully raised his hand and said, “Excuse me, Professor. Isn’t this Plotinus the same as Plato?” To which the master replied, “No, Cretan.”
As proof that times change but nuts remain, writer Antonio Prata recalls a recent nut at the University of São Paulo. His nickname: Saint Augustine. “He was a hairy, bearded, dirty guy, who always came in with some newspapers that we did not know if he read or slept with,” he describes. He had read only one thing in his life: Saint Augustine. “And no matter what course it was, no matter how long he had to wait, at some point he would find the connection. He wouldn’t ask a question, he’d throw up, “Professor, professor, these things you are talking about—Descartes, Plato, Adorno, neoliberalism, land reform, strikes, sunscreen—doesn’t it have to do with that concept of Saint Augustine?”
It’s the monothematic nut, with obsessive-compulsive tendencies.
It is worth mentioning that not even the great personalities are immune from the verbal assault of a deranged spectator. The story goes that during a meeting of the Latin American left in Paris at the time of the military dictatorships, a lecture nut went on a rampage against writer Mario Vargas Llosa. A bearded man rose from the audience and shouted: Mientras Obregón se moria en la selva por el pueblo peruano, tu, que hacias?
The audience fell silent. Without trembling, Vargas Llosa answered that he taught Spanish literature at a university. And he returned the question: Y tu, que hacias?
Yo tenía la hepatitis, said the bearded man.
A popular category is that of the lyrical nut. “That guy who wants to read a poem, a short story, the first chapter of a novel, at any cost. I’ve had people take the microphone from my hand and start talking,” said writer Marcelino Freire. For him, poets are the worst: they always ask for the microphone.
Cartoonist Laerte particularly appreciates the super-specialist nut, who knows his own work better than you do and points out inconsistencies and contradictions in what has just been said. This type can bring advantageous profits, and it is even possible to implant one of them to perform in your own lecture—the fellow raises his hand and says that in this passage you have certainly made a covert reference to the idea of witzelsucht as discussed in Heidegger. Genius, great thinker, you answer with an “mm-hmm” out of modesty and move on to the next question.
For the critic Rodrigo Naves, who teaches a course in art history in São Paulo, the most common nuts are the needy, who talk about their affective, existential and marketing problems. “There’s one Asian man that I have seen speak on three different occasions,” he says, himself an occasional lecture nut, of the aggressive kind, albeit in recovery. At one point, Naves got up from his chair and said indignantly of the lecturer’s opinion, “No, no, no. No, no, no, no,” as only a good professional in the business could express it.
There is a subgenre of latent nuts that, according to journalist Elio Gaspari, are those who go to conferences, listen carefully to everything, but their business is the food offered at the end of the event. “I met one such nut in the United States, a very elegant man who wore a three-piece suit. The joke was that one day he would ask a question reciting all the lectures he had heard,” he says.
The most recent formal record of a lecture nut occurred on August 10, 2010, after a discussion between cartoonists Gilbert Shelton and Robert Crumb in São Paulo.
The wacky intervention appeared in the Estado de S. Paulo newspaper, reported by Jotabê Medeiros: “A crazy man shouted from the top of the mezzanine and asked which dead personality Crumb would have a beer with.” Crumb replied, “I don’t drink beer with dead people. In fact, I don’t even drink beer.” At another point in the evening, the cartoonist asked a fan to contain his anger. “‘Shutupfuckoff!” he growled, and the boy laughed.”
Blessed be the anonymous nut, the voluntary nut, the one who gets up indomitable in the middle of a lecture and sets off toward consecration. Cursed be the written questions, the rules against audience participation, the impatient boos, the obligatory applause sign, the people who throw tomatoes at those who disrupt the progress.
Damned be the anthropologist Claude Lévi-Strauss, who in a book thanks his students for their “silent but perceptible” reactions, which allowed him to develop his thinking without too much trouble.
Long live those who attend lectures only to kill time, and yet do not miss the chance to express themselves, because they are interested in sharing their opinions with others. Long live the lack of sense, shame, and respect for the authorities present.
Everyone has a lecture nut inside, waiting to emerge. We are only repressed by the shackles of composure, mental sanity, and adulthood, which make it impossible for us to be protagonists at conferences of great moments in the history of human argumentation—like in 2005, at a literary fair, when a 5-year-old audience member raised his hand and asked author Luis Fernando Veríssimo, “Do you like grape juice?”
0 notes
Text
Diários do dandismo de massas #2: sobre o termo
Como eu sugeri anteontem, esta é uma série de polaróides de um projeto em andamento. Com isso, quero dizer que não me comprometo muito com nada do que escrevo. (Não que importe). Fiquei hoje de tratar do termo "dandismo de massas", que ficou faltando no último post.
No Notes on Camp, a Susan Sontag dedica quatro das 58 notas que dão título ao ensaio à associação entre distinção e cultura de massas. O camp, segundo ela, nutre um apreço pelo desinteresse, ou pela indiferença (detachment). "E assim como o dândi é o representante do aristocrata em questões de cultura" diz ela, "o camp é o dandismo moderno". O dandismo inglês e francês do século XIX era fundado numa ideia individual de distinção, desinteresse, fruição estética e lazer. O acesso à cultura era, naturalmente, prerrogativa aristocrática ou da alta burguesia. O dandismo, ícone da distinção e do desinteresse, era então só possível ao burguês abastado, que poderia comprar cultura.
[Um parênteses: um dos textos mais canônicos do dandismo é "Do dandismo e de George Brummel", do francês J. Barbey d'Aurevilly. O livro, de 1845, trata da figura de George "Beau" Brummel", dândi inglês nascido em uma família próxima do poder e que se tornaria o arquétipo do dandismo (além d'Aurevilly, também Jacques Boulenger, Arnould Frémy, e Balzac, em seu Tratado da vida elegante, escreveram sobre ele). Beau Brummel representava, para d'Aurevilly, o oposto do tipo do "excêntrico", aquele que se volta contra a ordem estabelecida e, no limite da loucura, contra a própria natureza. Brummel não era um excêntrico, mas um dândi: um respeitador da regra, um explorador das maneiras de ser através de seus aspectos mais materialmente visíveis", e um amigo próximo do rei da Inglaterra].
As condições de singularidade e individuação dos séculos XVIII e XIX já não estavam mais disponíveis (ou estavam disponíveis de uma forma muito outra) na metade do século XX. Não era mais possível se vestir de uma maneira perfeitamente singular quando sua roupa passava a ser comprada na loja, e produzida junto com centenas de outras peças iguais, por exemplo. Dado que a necessidade de distinção ainda era premente, Sontag diz que o camp—com uma espécie de mirada irônica sobre o refinamento—é uma espécie de "dandismo na cultura de massas" [dandyism in the age of mass culture].
A formulação da Sontag é muito boa, e captura o conflito ou a contradição entre—em termos mais econômicos—escolha individual e inserção em um mercado de massas, ou—em termos mais culturais—distinção/individualidade e auto-dissolução em tipos formulares/prontos. Os alemães do início do século XX eram menos crentes em qualquer possibilidade de resolução dessa contradição. No ensaio sobre o Ornamento da massa do Kracauer, ou posteriormente na ideia da estetização fascista da política do Benjamin, por exemplo, a formação de uma cultura de massas parece ser diametralmente oposta à individualidade, à personalidade, à autenticidade etc. O "ornamento da massa", a forma com que a sensibilidade quotidiana da massa retorna sobre si mesma em forma estética, é, para o Kracauer, análogo à racionalidade abstrata e matematizante do modelo de produção capitalista. Dá para se ter ou uma coisa ou outra, individualidade ou uniformidade, mas não ambas.
A fórmula da Sontag parece dar conta da contradição sem propriamente eliminá-la com um lado subsumindo o outro. Mas o que me parece ser uma diferença entre, de um lado, o camp enquanto "dandismo na cultura de massas" e, do outro, um "dandismo *de* massas" é a atenção ao seu agente. Um dandismo *de* massas estaria mais preocupado em dar conta não apenas da impossibilidade de distinção à maneira do século XIX em um contexto de capitalismo tardio, mas de quando esse tipo de distinção assume uma forma em si coletiva. Quando o distanciamento e a distinção parecem ser encontrados justamente em uma empreitada compartilhada, socializada, em subculturas que giram ao redor de formas de auto-expressão (algumas das quais citei no #1).
O dandismo de massas, enquanto conceito organizador, oferece uma hipótese para responder à pergunta sobre as possíveis alternativas à tese da estetização fascista da política. É possível haver modos de estetização/auto-apresentação sensível que sejam ao mesmo tempo coletivos/de massas mas não meramente reacionários/fascistas? O que significa uma vontade de distinção em massa? O que é uma distinção coletiva? Etc.
Se é verdade que o fascismo disputa com o comunismo a organização da classe trabalhadora, talvez no campo da distinção haja algo análogo: a disputa, por exemplo, entre uma estetização (homogeneizante) de massas e um dandismo (singularizante) de massas.
0 notes
Text
Diários do dandismo de massas #1
Tem uma frase do Foucault em que ele diz algo como: não escrevo porque tenho alguma coisa para dizer e preciso dizê-la, mas porque justamente não tenho nada muito específico para dizer, e escrever é uma forma de transformar essa ausência de algo para dizer em uma coisa, em algo para dizer. Enfim. Já devo ter mencionado isso talvez até neste blog algumas vezes, mas depois que me deparei com esse pensamento ele me ocorre com frequência. De fato, uma frequência baixa o suficiente para eu não me dar o trabalho de escrever com frequência, mas, mesmo assim, alguma frequência.
O intróito foi esse porque estive pensando, hoje, sobre usar este espaço, meu blog, como um ambiente semi-público para articular um pouco os meus pensamentos ao sobre a minha pesquisa. Hoje à tarde passei um tempo conversando com dois colegas do departamento e falei um pouco sobre o que estou estudando para a tese. Falar sobre meu tema de pesquisa me faz refletir um pouco sobre ele, e toda apresentação para um público envolve uma organização mental ao redor do tema. Às vezes, a organização se dá justamente no momento do discurso sobre o tema. Tenho achado que estou atrasado com a minha proposta de tese, perdendo os prazos. E um pouco do motivo é a falta de ocasiões em que simplesmente paro e reflito sobre o meu tema, escrevendo. Este blog, então, talvez seja esse espaço.
Me refiro a um ambiente "semi-público" porque, não sendo em uma plataforma em que tenho muitos seguidores, o texto não vai circular muito. Não é, portanto, propriamente público, ou muito público. Não é privado também, como seria um documento do Word. Isso tem mais a ver com a minha necessidade, enquanto alguém que está escrevendo alguma coisa, de não apenas pressupor um público mas me dirigir diretamente a ele. Daí talvez a minha dificuldade de escrever diretamente no Word, que associo a um tipo de escrita impessoal, e sem público muito bem definido, e minha prática de normalmente começar meus ensaios em lugares como o Facebook, o Medium etc. Às vezes o Twitter, embora a rede seja um pouco avessa ao texto mais longo.
Não vou ficar me justificando sobre a natureza desse texto—acho que já fiz demais. Nem sobre a qualidade dele, que vai sem edição nem revisão. Este é um monólogo para mim mesmo.
Enfim, minha tese. Tenho estudado um fenômeno que chamo de "dandismo de massas". O termo, para mim, começou como uma espécie de piada, e o registro mais antigo que tenho de seu uso é em um tuíte de 19 de novembro de 2021:
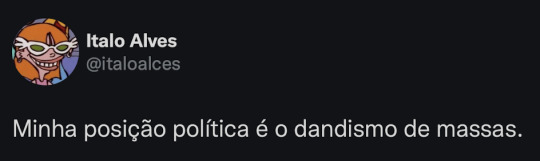
Não é exatamente uma piada, mas também não é completamente sério. É meio barroco. As coisas que eu estava pensando naquele momento, e que são ainda em grande parte as coisas que eu estou pensando agora e que decidi transformar em tese em filosofia, tinham a ver com expressão estética, apresentação e representação de si, e questões em torno de conflitos de classe e pertencimento.
O dândi, afinal—em sua forma literária do século XIX, baseada, por sua vez, nos tipos sociais urbanos ingleses e franceses alguns dos quais já surgiam no século anterior—é o arquétipo do burguês esteta que almeja aos modos aristocráticos. Diz respeito a um indivíduo que não nasceu com um direito de pertença às atividades da corte, por exemplo, mas que quis entrar nela mesmo assim. Um traidor de classe, pode-se dizer, só que um que trai pra cima, em vez de para baixo, como no tropo do filho burguês que se rebela com os pais e se junta à luta armada—o "hipster", com o sentido específico daquele ensaio mal-afamado do Norman Mailer. O dândi é um anti-hipster, mas que não é "anti" porque reivindica uma autenticidade, uma sinceridade de classe e identidade, mas porque, em vez de reagir à sua classe de origem através do que pode ser visto como uma abdicação de seu acesso a bens e status, o faz buscando *outros* bens—e, principalmente, outros status. [Não gosto de traduzir status como estatuto, mas também não gosto que o plural fique idêntico ao singular. A ver].
Baudelaire diz que o dândi é uma figura de transição. Ela aparece quando a aristocracia está decadente e dando lugar a um regime democrático. Mas Baudelaire não explora muito esse motivo. Não explica por que, ou o que há de particular na decadência da aristocracia que a torne tão mais atraente à burguesia do século XIX. [Talvez essas respostas estejam nas várias teses (vide Kracauer, Simmel, talvez Weber) sobre o esfacelamento moderno do sentido da vida, que vem junto com a diminuição da influência da religião na vida quotidiana. A ver também.]
O que *me* interessa no dandismo é sua estrutura: o leitmotif do sujeito que, insatisfeito com sua posição de classe, almeja ascender socialmente. Principalmente, me interessa quando isso acontece nas classes trabalhadoras, ou nos lumpens afetados pelas várias empreitadas coloniais, e quando toma formas coletivas. Quando grupos inteiros se veem numa posição de insatisfação ou não-reconhecimento de sua posição de classe "original", e esse não-reconhecimento afeta sua performance de classe, seus modos de auto-apresentação, de expressão estética de si. São os exemplos mais imediatos os sapeurs, entre o Congo e a França e Inglaterra, os pachucos, entre México e Estados Unidos, os zwenkas, na África do Sul, ou mesmo os zazou na Paris pós-guerra, os funkeiros ostentação no Brasil, etc.
Deixo para amanhã falar sobre as formas que toma esse interesse. E também sobre a origem da expressão "dandismo de massas". Se der tempo.
0 notes
Text

Absolutamente comovente essa foto de Lula cumprimentando José Luiz Datena, que apareceu no Twitter do Márcio França nesse domingo. Não sei o contexto, mas acho que é o de menos. O que importa é o resto. Também nem sei por onde começar. Talvez por Lula e Datena estarem ambos olhando para alguma coisa ao lado da câmera, posando para algo além do olhar do espectador. Ou pelo aparente excesso de dedos que parece compor o cumprimento, causado pelo ângulo pouco ortodoxo da foto—de baixo para cima e meio torta para a direita. Sobre os dois, uma sublime plotagem pixelada da Criação de Adão, do Michelangelo, que os enquadra e reflete, principalmente em gesto. O braço que se estende dos fundos para a frente no teto é o braço direito de Adão. No original da Capela Sistina, porém, Adão ergue seu braço esquerdo, o que indica que alguma coisa na imagem está espelhada. Talvez seja a própria foto do Márcio França, numa tentativa de evitar com que o Lula aparecesse à direita do Datena (e a encheção de saco semiótica que a acompanharia). Ou talvez seja culpa do próprio envelopamento gráfico do teto, cujo dono pode ter decidido centralizar alguma coisa ou outra, ou evitar problemas com direitos autorais (aliás, que lugar é esse?). Fato é que: Deus está fora do quadro, e não dá sinal de vida. E o Adão está transformado em uma espécie de Abaporu, com a cabeça bem pequeninha no fundo e uma mãozona e pernões em primeiro plano. Lula está sorridente, embora o Datena pareça um pouco combalido. Veste camisa e terno pretos, e porta no bolso do paletó um iPhone com a câmera apontada para frente, numa posição que se assemelha a de uma body cam policial. Datena está um pouco deprê, e parece que seu lado direito do rosto está enrijecido. Enfim. Estava lendo Kant hoje, sobre o juízo de sublimidade. Sublime é aquilo que, por ser imensamente grandioso e majestático, demonstra a mesquinhez da imaginação e do juízo humanos, e, nos fazendo nos comparar com a grandeza do que vemos, causa uma espécie de pavor agradável—temor, ou respeito. Ou seja, sublime é aquilo que deixa a gente com a cara do Datena nessa foto, vendo algo como o tamanho desse dedo do Adão pixelado no teto.
0 notes
Text
Mass dandyism wagers that an aristocrat who descends from his court to live with the peasantry, and who might speak for the peasantry, is generally less interesting than a peasant who poses as an aristocrat or who strives, despite the obstacles—sometimes unsurpassable—to become one. The former is powerful enough to renounce what has been his since birth. The aristocrat-turned-peasant does exercise a type of freedom: he has the chance to live as an aristocrat but decides not to. It is true freedom, in that freedom to do what one is supposed or expected to do is not true or actual, but merely apparent. But his freedom to live as a peasant is unmerited and apolitical. He did not have to act to secure it, as it was given to him at birth and secured by his belonging to a family. The peasant who aims at the aristocrat's manners, however, had to dispute the state of the situation in which they initially were. They had to acquire and secure this freedom—a freedom to act differently than one is supposed to—by their own hands. By doing so, they challenged the original distribution of power and reconfigured it. The peasant who behaves as an aristocrat is in this sense more aristocratic than the aristocrat by birthright, who has never dealt reflexively with his social position. He is able to say something more meaningful about the aristocracy than the aristocrat by birthright.
1 note
·
View note
Text
Nota sobre a universidade
Estou passando o mês em Paris para uma escola de verão. Das últimas vezes que estive aqui, as coisas estavam majoritariamente fechadas por causa da pandemia. Agora estão abertas. Além disso, é verão, o que já enseja um uso diferente do espaço.
Tem feito, porém, muito calor. A máxima para amanhã é de 37°C. Como na maioria dos lugares não tem ar condicionado, hoje vim procurar um lugar na EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales) para ficar estudando durante a tarde, esperando que fosse um pouco mais confortável e climatizado. Abri o site da EHESS, procurei por salas de estudo, fui até uma, estava vazia, entrei e estou aqui. Ou seja, não precisei falar com ninguém, nem pedir permissão, nem me apresentar no meio do caminho.
É algo mínimo, eu sei, e particular, mas esse tipo de experiência, replicável em vários lugares do planeta, me lembra por que eu gosto da ideia da universidade. Desde quando eu a descobri, em Porto Alegre, quando me mudei do interior para estudar na capital, até agora, fico sempre um pouco fascinado quando lembro da existência desse tipo de lugar semi-público, que permite entrar e ficar relativamente invisível. A universidade é uma espécie de local privado em que você pode entrar, fundamentalmente (diferente de um parque, em que não se entra), sem precisar pagar (diferente de um café, em que se paga). Vai poder usar internet de graça, ficar sentado em algum lugar mexendo no seu computador sem ninguém te perguntar nada e sem ter que pagar por isso.
Claro que nem sempre é bem assim—ainda mais em países com um racismo institucional mais explícito como o Brasil—mas que isso seja possível em ideia já é um pouco reconfortante. A ideia de que é possível existirem espaços que não sejam estritamente privados, que você possa ocupar sem que seja um membro da família, um empregado ou um consumidor. Um modelo socialista de uso do espaço, para mim, tem a ver com poder estar em lugares apenas pela qualidade de ser pessoa, sem precisar vestir a roupa de familiar, consumidor ou empregado. A universidade é uma coisa perto disso, ao menos em ideia.
Outro lugar cuja ideia permite esse uso é a biblioteca (que está, frequentemente, junto à universidade). Não acidentalmente, em países em que faz mais frio, como o Canadá e o norte dos Estados Unidos, as bibliotecas públicas são um destino frequente de moradores de rua, que no inverno ficam lendo os seus jornais ou acessando a internet sem precisarem pagar ou prestar contas.
0 notes
Text
Nota sobre o cristianismo
Ontem li um capítulo do The Egyptian Hermes, do Garth Fowden, em que ele trata da questão da tradução/interpretação da cultura e do mundo e linguagem do Egito antigo para uma mentalidade e linguagem helênicas. Parte desse processo, segundo ele, foi feita por parcela educada da elite egípcia que operava segundo maneiras de pensar (e falar) gregas.
O Fowden, se eu entendi bem, tenta identificar uma característica intrínseca à cultura helênica que a tornaria apta para chupar os modos de pensamento das culturas que a circundavam e traduzi-los em modos propriamente helênicos. Segundo ele, também se entendo bem, essa característica estaria principalmente na linguagem grega. Há trechos de escritos egípcios de 1~3 AEC em que reclama-se da pobreza da língua grega: enquanto a língua egípcia exprimiria propriamente, através de sua enunciação vocalizada, a força de uma palavra, a grega a isolaria de sua potência sonora, transformando-a de uma expressão de força ou efeito a mero veículo de um significado.
O autor depois expande para discutir a questão da traduzibilidade e das características intrínsecas a uma cultura que a fariam apta à tradução de culturas alheias para o ocidente cristão em relação as culturas indígenas e orientais. Estou simplificando um pouco. Mas há um exemplo que achei interessante. Ele fala da crença religiosa de uma tribo aborígene australiana segundo a qual seus deuses abandonaram sua terra há muito tempo e os objetos votivos e cerimoniais atribuídos a eles foram doados a daemons em forma de antropólogos brancos.
Fiquei pensando, com isso, na força do cristianismo como cultura tradutora de universos de pensamento e linguagem locais: um mundo moral que é capaz de transformar virtualmente qualquer realidade moral e religiosa local em categorias próprias—mesmo que negativamente. De um lado (positivo), está a conversão dos povos sobre os quais culturas cristãs exerceram hegemonia: modos de pensamento locais que, através das mediações e adaptações necessárias, foram absorvidos pelo universo cristão. De outro (negativo), o exemplo aborígene: culturas não-cristãs, que, através de um contato associado ao exercício de um poder de controle, absorveram parte das categorias cristãs (o antropólogo branco, p. ex.) para suas próprias crenças. Me pergunto se há algo no cristianismo, ou no monoteísmo, se quisermos, inerentemente "tradutor"—isto é, capaz de interpretar modos alheios e absorvê-los como seus—apartado do mero exercício de poder bélico dos povos europeus. Há algo no cristianismo, ou nas religiões monoteístas, que o torne especialmente apto a uma reprodução "memética" (no sentido do Dawkins—de uma unidade cultural em busca de sua propagação e manutenção). Ou isso é apenas consequência da dominação global de uma cultura europeia cristianizada?
0 notes
Text
Nota sobre Três Coroas
Cresci em Três Coroas. E principalmente, como diria o Drummond, nasci em Três Coroas. Sou orgulhoso cidadão trescoroense e Três Coroas, onde quer que eu esteja, me acompanha. Tem algo sobre Três Coroas que a deixa, ao mesmo tempo, em um limbo cartográfico e numa posição especial. Três Coroas fica apertada entre duas regiões mais bem delimitadas — a Serra, que para todos os fins vai até o limite de Gramado, mas não chega a descer a RS–115, e a Região Metropolitana de Porto Alegre, que vai, dizem, até Igrejinha.
A esse respeito, conta a história que, por volta de 2012 (se me lembro bem. Pode ter sido antes ou depois), alguém resolveu estender os limites da Região Metropolitana de Porto Alegre, que na época ia até Taquara, para um pouco mais longe. Franqueou-se, então, a oportunidade de integrar a Grande Porto Alegre a Três Coroas e Igrejinha. (Veja que na história nunca fica muito claro quem era a pessoa, órgão ou entidade por trás do empreendimento cartográfico e administrativo).
Os benefícios de integrar a Região Metropolitana de Porto Alegre seriam vários. Primeiro, o direito de entender a si mesmo não como habitante do interior, mas sim da Região Metropolitana de Porto Alegre, o que apela à sensibilidade do jovem universitário, por exemplo, bem como das classes médias cosmopolitas e antenadas de forma geral. Depois, o repasse de verbas, não muito claro de quem, mas que por exemplo ajudaria a custear o transporte público municipal (que em Três Coroas, salvo engano, não existe). Terceiro, alguma mudança de status da cidade para os responsáveis pelas políticas públicas regionais, mas neste ponto apenas especulo.
Fato é que, conta a história, Igrejinha, a prima rica, aceitou o convite com alegria e juntou-se à liga que congrega Canoas, Parobé, São Leopoldo, Taquara, passando a fruir imediatamente das benesses que acompanham a mudança de status. Três Coroas, por outro lado, não conseguiu juntar todos os documentos a tempo (ou algo assim) e perdeu a inscrição. É o que contam.
Os motivos podem ter sido vários, desde problemas administrativos até o protecionismo econômico — a batalha contra a subjugação de Três Coroas à Área de Livre Comércio dominada pelos tubarões da Região Metropolitana de Porto Alegre. O esfacelamento da cultura nacional do município pelos modos estrangeiros etc. Ou a opinião de que era Porto Alegre que deveria ter se candidatado a integrar a Região Metropolitana de Três Coroas.
Não integrando a Porto Alegre expandida, Três Coroas também não é parte da Serra. Por muito pouco, eu gostaria de dizer, já que o centro de Gramado fica a uns 15 minutos de carro de Três Coroas bem como há ônibus a cada hora e meia saindo para São Francisco de Paula. A Unimed, na sua organização geográfica própria, atribui a Três Coroas a humilhante zona “Pé da Serra”, que eu acho que também abrange Igrejinha (não encontrei detalhes no site). O título é equivalente a jogar uma nota de 5 reais no chão e fazer o amigo que pediu um troco emprestado para o pastel se ajoelhar para pegar.
A questão territorial é também o coração de uma disputa antiga sobre o IPTU. Em 2005, a Schincariol instalou uma fábrica em território alegadamente igrejinhense, na fronteira com Três Coroas. Uma fábrica enorme, rica, inaugurada pelo governador da época, o Rigotto. Por muitos anos, a dita planta de fabricação de bebidas pagou impostos à cidade de Igrejinha. Mal sabia Igrejinha que, sob inspeção mais miúda, a planta estava instalada, na verdade, sobre território trescoroense. O município de Três Coroas, então, munido de um bom mapa, processou Igrejinha, pedindo todo o dinheiro de volta e um sincero pedido de desculpas. Ganhou (dizem. Eu não chequei). Igrejinha, então, deve milhões de reais de impostos de todos esses anos a Três Coroas, e talvez tenham que penhorar a Oktoberfest para pagar uma parte.
Não fazendo parte de muita outra coisa em específico, Três Coroas é lembrada como a sede do maior templo budista tibetano da América Latina. A referência geográfica, no caso, diz respeito a um país mais ou menos do outro lado da Terra. Não sei bem se por ou a despeito dessa orfandade de região própria, as referências à cidade que circulavam ao meu redor quando eu crescia na cidade eram todas muito grandiloquentes, como que conferindo à cidade uma centralidade geográfica ou geopolítica que por outros meios não poderia existir. Nosso lema extraoficial para a cidade era “Capital do Mundo” (o oficial era o ligeiramente menos interessante "Cidade Verde"). Chegou a constar por um tempo no verbete da cidade na Wikipédia, por obra do vândalo juvenil que um dia fui. Hoje sobrevive apenas nas nossas memórias, e num blog que eu achei hoje que copiou o verbete da Wikipédia na época e provavelmente não achou nenhum problema.
3 notes
·
View notes