Don't wanna be here? Send us removal request.
Photo

Audrey Hepburn https://www.instagram.com/p/CkLhmJzrWywG5nzP5-8lFTDUHYc1vnU79GUPqE0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Text
Terry Pratchett: “Não quero Discworld indo na mesma direção de Harry Potter”
O autor inglês Terry Pratchett, que morreu em 2015, é um fenômeno: seus livros vendem feito água na Inglaterra, especialmente os Discworld, série de fantasia voltada a jovens adultos que já compreende 30 livros (seis deles lançados no Brasil pela Conrad Editora). Nesta entrevista exclusiva, realizada em 2003, Terry fala de sua carreira, dos livros, do universo da Fantasia e também da adaptação de sua obra para o cinema, via Dreamworks…

Li em uma biografia sua que sua maior fonte de educação foram as bibliotecas. Esta relação próxima com os livros é que lhe levou a se tornar escritor? Certamente eu aprendi mais do que valia a pena nas bibliotecas! Isto, muito provavelmente, influenciou minha decisão de me tornar escritor. É uma lógica simples: se você lê livros demais, acaba transbordando…
Quando garoto, havia um gênero preferido, como Fantasia, que é o gênero que o sr. escreve, ou o sr. costumava ler de tudo? Fantasia e Ficção Científica eram meus gêneros preferidos, o que me mantinha ligado ao mundo dos livros, mas eu visitava as outras prateleiras quase sempre. Quando criança, eu queria encontrar coisas que me assombrassem, que me mantivessem o interesse — e um bom livro de histórias pode, certamente, fazer isso. Um livro leva ao próximo. Pense nisso como: de Fantasia eu fui levado gentilmente à Mitologia e daí para o Folclore (o que, em alguns aspectos, especialmente para uma criança, se assemelha muito à própria Fantasia) e daí para História Antiga (que se parece com mitologia) e em seguida à História. Para uma criança com fome de aprender, o degrau da Ficção Científica para um livro sobre dinossauros ou astronomia é muito pequeno. Eu lia como um condenado!
As pessoas hoje estão lendo menos, talvez por causa da concorrência de outros meios de diversão, como televisão, internet e videogames. Este problema, em países como o Brasil, acontece com uma grande parcela da população. Como o sr. vê o desafio de tentar conquistar a atenção de gente com interesses tão diversos? Eu não sei se é verdade que as pessoas estão lendo menos. Na Inglaterra, pelo menos. As alternativas à leitura é que são valorizadas demais. Em todo caso, eu acho que o que eu posso fazer é escrever bons livros, que capturem a força da palavra escrita. Um livro — e só um livro — pode criar um mundo inteiramente único, falando diretamente com o leitor.
Na sua opinião, o que difere um escritor do fã comum? O que faz com que alguns tenham o impulso criativo e o talento para escrever livros e outros, mesmo os leitores mais ávidos, possam simplesmente viver para admirar o trabalho que gente como o sr. faz? Escrever é, em parte, um acúmulo de talentos e, em outra parte, um enorme — mas bem direcionado — ego! Mas o talento de verdade é a habilidade se sentar por tempo suficiente para escrever 100 mil palavras!
Como fica o desafio de imaginar novas histórias para alguém como você, com mais de 30 livros publicados? De onde vêm suas idéias, afinal? Hoje já são mais de 40 livros! Ninguém sabe de onde as idéias vêm, mas acho que manter atualizado um bom conhecimento geral e um interesse genuíno no que acontece no mundo ajuda muito.
Como funciona seu processo criativo? Você ainda prefere, como no início da carreira, escrever nas férias, quando está mais relaxado? Ah, sim. E nas férias não há telefonemas chatos para atrapalhar, também. Mas eu não vejo com bons olhos escritores que exigem condições especiais para conseguir escrever. Eu me treinei para escrever como um hábito. Quando trabalhei em jornais, aprendi a focalizar minha atenção no que estou fazendo, a despeito de todo o barulho à minha volta. E olhe que redações de jornais são sempre muito barulhentas.
E as influências, de onde vêm? As referências que você usa nos seus livros vêm de outras fontes que não a literatura, como folclore? Com toda certeza. As influências vêm de todos os lugares. Estou com 55 anos e ainda não sei de onde as coisas aparecem, ainda hoje. Acho que simplesmente estar vivo já é uma boa pesquisa profissional.
Como você vê o sucesso de outros autores de Fantasia ingleses, como J.K. Rowling e Diana Wynne Jones? Na sua opinião, seus livros são escritos para a mesma faixa de público? Não é uma questão de opinião. Os livros da série ‘Discworld’ são escritos e publicados com a intenção de atingir ao público adulto, mesmo que eles acabem atraindo também crianças mais velhas. Eu sei que há crianças que os lêem, e adultos que compram meus livros infantis, mas acho que o gênero Fantasia permite esse cruzamento de limites de idade. Eu fico feliz por qualquer pessoa que leia o que eu escrevo. Só pra complicar o tema, eu no momento estou escrevendo, à parte dos livros adultos da série ‘Discworld’ que, não obstante, é passada numa parte do Discworld. Ninguém parece se importar com isso.
Que notícia você pode dar sobre as conversas com a Dreamworks (o estúdio de Steven Spielberg) sobre a possibilidade da trilogia Bromeliad (ainda não publicada no Brasil) chegar ao cinema? Já houve um acordo, mas a última coisa que ouvi foi que o projeto estava esperando a finalização de Shrek 2 (que estréia no ano que vem). A questão é: eles já me pagaram um montão de dinheiro, que eu não precisarei devolver se o filme não sair do papel. E isso é o melhor que se pode esperar sobre os filmes. Estou inquieto sobre esse assunto de qualquer maneira. Harry Potter é, agora, cria da Warner Bros. e de seus publicistas e marqueteiros. Eu não quero ver ‘Discworld’ caminhando na mesma direção.
Como foi a criação do universo de Discworld? O conceito e a mitologia do seu trabalho levaram tempo para serem desenvolvidos? ‘Discworld’ foi sendo criada conforme era escrita. Originalmente, não era para ser nada além de uma paródia da literatura de Fantasia normalmente escrita. Isso rapidamente saiu de questão da mitologia tradicional e cresceu a partir de então.
Qual a diferença entre escrever um livro para crianças e um livro adulto? Um livro é um livro. Eu lia livros de adultos quando tinha 11 anos. Muitas crianças fazem isso. Da mesma forma, há muitos autores infantis que podem ser lidos com prazer por um adulto inteligente. Eu escrevo para ambos os grupos. Se seu alvo são crianças de, digamos, 10, 12 anos, é preciso levar em consideração seu vocabulário e as referências precisam ser estudadas cuidadosamente, mas não acho que seja preciso ficar longe de temas considerados difíceis. Acho até que pode investir fortemente neles. Não é preciso baixar o nível para escrever para crianças. Elas podem ser brilhantes e aprendem muito rápido. Livros escritos especialmente para adolescentes parecem ser um fenômeno recente, acho que há gente que acredita que pode curar os males de se ter 14 anos. Mas é o tipo de problema que se cura sozinho.
Como é sua relação com os fãs e como o sr. lida com a infindável briga entre os que preferem um personagem ou , um livro ou outro? Fãs são engraçados, são divertidos. Mas um autor precisa ter sempre em mente que, para cada fã hardcore existem milhares de outros que lêem os livros mas não compram, nunca, as camisetas! Eu ouço o que os fãs dizem, mas lembro que, na hora de escrever, quando o cursor está piscando na frente, só há uma pessoa lá: eu.
E a crítica? Você, uma vez, já disse que odeia que seus livros sejam definidos como “malucos”. Por que? Porque é errado e estúpido! Há algo de diminutivo, de depreciativo na palavra. Me dou muito bem com os críticos, mas acho que ainda há muita gente esnobe nesse meio.
Você já ouviu de um editor dos Estados Unidos que não ia publicá-lo porque seus livros eram inteligentes demais para as crianças norte-americanas. A série ‘Discworld’ acabou sendo publicada por lá com um grande atraso, começando apenas em 1995, e aqui no Brasil, apenas há cerca de 2 anos a Conrad Editora começou a lançar seus títulos. A quê você atribui esse preconceito, já que a qualidade do seu trabalho não esteve em discussão? É, houve uma certa confusão nesse caso. Esse comentário foi feito sobre uma outra série infantil de livros que escrevi, nenhuma relação com ‘Discworld’. Essa série acabou sendo publicada, com grande sucesso editorial, por um outro editor, menos estúpido. Meus livros infantis mais recentes também foram muito bem de vendas. A série ‘Discworld’ é um capítulo à parte: ela foi muito mal editada nos Estados Unidos no início dos anos 90, mas tem grande vendagem hoje em dia. Mas o Reino Unido ainda é meu maior mercado.
Fale pra gente, um pouco, sobre seus planos para o futuro. A série ‘Discworld’ terá uma conclusão? Desculpe, não falo sobre o futuro...
0 notes
Text
Entrevista com Christian Jacq, egiptólogo e escritor francês, autor da série ‘Ramses’
Responsável pelas séries de livros Ramsés e A Pedra da Luz (lançadas no Brasil pela editora Bertrand), o egiptólogo francês Christian Jacq tem 54 anos, é formado pela Sorbonne e mantém uma carreira paralela: a de escritor. Seus livros falam de um tema que sempre fascina os leitores: o Egito antigo. Na entrevista exclusiva, direto de Paris, Jacq fala de pirâmides, faraós, literatura e do desejo de conhecer o Brasil.

Como surgiu seu interesse pela literatura e pelo Egito antigo? Descobri o Egito aos 13 anos, quando já escrevia, lendo um livro sobre o assunto. A partir de então, decidi que as duas paixões balizariam minha vida e minha carreira. Busquei a formação acadêmica em ambas as áreas: filosofia, latim, grego, história da arte, arqueologia, literatura e doutorado em egiptologia, que fiz na Sorbonne.
Então o autor surgiu antes do pesquisador? Eu já era escritor antes de me tornar um egiptólogo. Mas, claro, quando o tema do romance é o Egito, o texto flui melhor, de forma mais natural. Já são 15 livros escritos em toda a carreira, alguns deles sem quaisquer referências ao Egito.
É possível conciliar as duas vocações, que exigem tanta dedicação, ou o senhor abriu mão de uma em função da outra? Mantenho os dois trabalhos em paralelo. Descobri que, tanto no campo da pesquisa quanto nas ciências e nas artes, o trabalho não cansa. Fica, ao contrário, cada vez mais apaixonante.
Como é a pesquisa para seus livros? Quanto há de fundo histórico em suas obras? Cada livro, seja romance ou não-ficção, requer um trabalho específico de pesquisa, voltado ao assunto: hieróglifos, representações de templos e tumbas, por exemplo. Há uma busca incessante pela fidelidade técnica. Com relação à fidelidade histórica, acho que vale muito mais a imaginação do novelista, ainda que intimamente inspirada em fatos reais da civilização egípcia.
Profissões como as de egiptólogo e arqueólogo são encaradas como cheias de aventura, estilo Indiana Jones. Hoje, com toda a tecnologia, continua sendo assim? Mesmo hoje, a vida do egiptólogo caminha passo a passo com a aventura. Mesmo passando horas e horas debruçado sobre papiros. A erudição não substitui um contato vivo com o Egito, que é sempre uma aventura.
Há uma verdadeira febre egípcia no Brasil. Recente exposição na universidade Faap, em São Paulo, reproduziu as filas quilométricas do megasucesso Titanic. Isto pode ser creditado, em parte, ao sucesso popular de seus livros, que há meses ocupam as primeiras posições entre os mais vendidos no país. Há planos de uma visita ao Brasil? Fico muito satisfeito que meus livros tenham despertado interesse em diversos países do mundo e atraído a atenção de pessoas de todas as culturas e posições sociais para a civilização egípcia. Fico muito orgulhoso, também, de ser famoso no Brasil, um país que ainda não conheço. Se os deuses permitirem, espero ainda descobrir seus segredos.
Seus livros demonstram um conhecimento místico que é tomado por muitas pessoas como só sendo possível a um iniciado. É? O conhecimento místico, ou simbólico, encontrado em meus livros, vem dos textos, que são ricos e numerosos. Acho essencial, quando se escreve sobre o tema, praticar a linguagem hieroglífica. Um egiptólogo que não creia na religião, que não partilhe uma simpatia absoluta pela civilização que estuda não pode, na minha opinião, pronunciar mais do que palavras sem vida.
O que mais o fascina no Egito? A religião? O modo de vida? O Egito era uma unidade bastante coerente. É difícil separar alguma coisa deste todo, seja a religião, os rituais, a arte ou o modo de vida. Lá, mais do que em qualquer outra civilização antiga, tudo isso se confunde. De toda forma, o que me impressiona muito na história egípcia é que foi lá que se desenvolveu a idéia da harmonia entre o céu e a Terra.
O Ramsés de seus livros colide um pouco com a sua imagem histórica. Alguns especialistas dizem, inclusive, que ele mandava apagar o nome de outros faraós dos templos e colocava o seu, tendo entrado para a história, por isso, como grande construtor. Como o senhor encara essa visão? É verdade. Mas é um erro pensar que isso foi um roubo. Ramsés, como todos os outros faraós, colocou seu nome em monumentos construídos ou iniciados por seus antecessores. Não se trata, como se lê frequentemente, de uma usurpação ou de um ato de vaidade. É, na verdade, um prolongamento de obras concebidas como seres com vida.
Um fato curioso — e de certa forma irônico — é que todos os seus vilões são gordos. É proposital? Não acho que sua constatação seja 100% correta. Há também os magros. Nota do Repórter: É verdade. Mas os gordos são mais cruéis. Chenar e Dolente, irmãos de Ramsés que vivem tramando sua morte, são comparados constantemente a leitões. Na série A Pedra da Luz, Serketta e Mehy, ambos muito gordos, são a principal fonte de problemas aos protagonistas da história. Mehy gosta de matar passarinhos e Serketta sente um prazer quase sexual em enfiar facas no coração de suas vítimas.
Os egípcios eram encarados por outros povos da antiguidade (e também de hoje) como mórbidos, culturadores da morte. Quanto há de verdade nisso? Os antigos (gregos e romanos) consideravam os egípcios como a fonte da sabedoria e das ciências. Quando se visita o Egito e se entra em uma morada da eternidade (e não em uma tumba), não se vê a morte, mas a vida transfigurada. Não há nem morbidez nem fascinação pela morte. Pelo contrário, o que se percebe é uma vontade de vencê-la, um desejo de retornar e vislumbrar a vida luminosa que existe além dela.
Como era a vida das mulheres na sociedade egípcia? Desde a primeira dinastia, a mulher foi considerada uma igual ao homem. O que é raro, historicamente falando. Podia ser chefe de Estado, superior de um templo, diretora de médicos ou mulher de negócios. Não era o que acontecia na Grécia ou em Roma. E até hoje não é assim em muitos países. Conforme observou o arqueólogo Chapollion, este é, sem dúvida, o mais importante ensinamento da civilização egípcia.
O que mais a sociedade de hoje pode aprender com este passado? É uma grande questão, que necessita de muitas respostas. É possível aprender muito em relação ao domínio da espiritualidade. No conhecimento dos processos de criação, na arte, na solidariedade entre os seres. Até na economia. Acredito que o modelo egípcio tem bastante, ainda, a nos ensinar.
Eram os egípcios a cultura mais evoluída de sua época? Sem sombra de dúvida. Juntando o conjunto de fatores da civilização, da arte, da medicina, passando pelo sistema legal, os egípcios estão muito acima de qualquer outro povo da antiguidade.
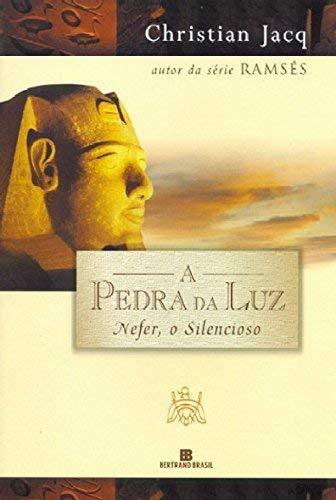
Outro aspecto de seus livros que difere da versão historicamente aceita pela maioria é a informação de que as pirâmides foram construídas por escravos, inclusive os judeus, que teriam sido libertados por Moisés, segundo a tradição bíblica. Havia escravos no Egito? Estas idéias vêm de filmes e do imaginário popular. Não há um único historiador sério que defenda isso. Só para ficar claro: não havia escravos no Egito. Nunca, em tempo algum, houve. Todos os que trabalharam na construção dos templos e pirâmides recebiam salários, mesmo que houvesse várias classes de trabalhadores e o salário fosse compatível com essas classes. E todos tinham total liberdade de ir e vir. No caso dos judeus, o momento político não era favorável a um êxodo tão grande, havia perigo muito próximo de uma guerra contra os hititas.
Há múmias e pirâmides em várias civilizações americanas pré-colombianas. É possível pensar em algum contato entre egípcios e astecas, ou maias? A analogia das formas não implica, forçosamente, na semelhança de intenções. Não é impossível que houvesse contato, já que alguns historiadores defendem a idéia de que haviam rotas comerciais entre o Egito e as Américas. Este, porém, é um assunto que não estudei de maneira profunda e a propósito do qual permaneço bastante aberto.
O que mais admira no Egito antigo? A constante busca da harmonia entre os diferentes elementos da vida. A amplidão do poder criativo e a riqueza do pensamento.
O que, de mais importante, falta ser descoberto nas areias do Egito? Ainda resta muito a descobrir. Mesmo os lugares célebres, como Gizé ou Saqqara, ainda contém muito a ser escavado. Entre as grandes descobertas que ainda estão para ser feitas, podemos esperar, por exemplo, pelo achamento da morada eterna de Imhotep, o criador da primeira pirâmide em pedra. Era um arquiteto, construtor, médico e astrônomo, um homem considerado pelos egípcios como um de seus maiores sábios.
Imhotep, aliás, ganhou vida em filmes recentes. Esta forma de ver as múmias como monstros vem de onde e de quando? Não é a única lenda absurda. Já acharam que o pó das múmias era afrodisíaco, acredite. Há também a maldição de Tutancâmon, outro absurdo. As múmias querem é paz.
Suas duas séries de livros mais conhecidas, Ramsés e A Pedra da Luz, são ambientadas na 19ª dinastia. É esta a época da história que mais lhe interessa? Este é o período mais ricamente documentado e, por isso, é mais fácil escrever sobre ele. Eu tenho profunda admiração pela 18ª dinastia, a de Tutancâmon, e pela idade das grandes pirâmides.
A 18ª dinastia foi a mais revolucionária, não? Foi nela, por exemplo, que apareceram as idéias que inspirariam, 100 anos mais tarde, as idéias monoteístas de Moisés. Quais os planos para futuros romances, há temas específicos que deseja abordar? Em novembro deste ano será lançado na França meu próximo romance, em três volumes: A Rainha Liberta. Se trata de um período pouco conhecido, durante o qual o Egito foi ocupado pelos bárbaros. Foi um ato de extraordinária coragem, mesmo para uma rainha, começar uma luta contra os invasores e devolver a liberdade ao povo egípcio.
Há planos de transformar seus livros em filmes? Há muitos projetos em discussão para o cinema, mas nenhum ainda se concretizou. Gostaria que fosse, enfim, realizado um verdadeiro grande filme sobre o Egito, que restitua seus valores e sua grandeza, sem cair nos erros e na caricatura que temos visto na mídia até agora.
O senhor consegue imaginar que astros poderiam viver os personagens principais? Confesso que ainda não encontrei um ator que mereça desempenhar o papel de Ramsés.
0 notes
Text
Um papo sobre literatura, medicina e cérebro com Edson Amâncio
A literatura acompanhou Edson Amâncio desde a infância. Ele se considera um leitor obsessivo. Na adolescência, leu um livro que, segundo ele mesmo, mudou sua vida: A Recordação da Casa dos Mortos, do russo Dostoiévski. Já na faculdade de Medicina, descobriu que o escritor sofria de epilepsia, tema que o interessava também profissionalmente. Recentemente, Amâncio conseguiu unir as duas paixões no livro O Homem Que Fazia Chover, que já está em sua terceira edição pela editora Barcarolla. Na entrevista a seguir, ele fala das novidades no estudo e no diagnóstico dos problemas da mente e também da carreira paralela, a de escritor.

Como se processa o pensamento? A relação entre cérebro e mente tem alguma relação com a de hardware/software de um computador? Creio que há poucas perguntas mais difíceis de responder. Uma vaga idéia de como se processa o pensamento pode ser entrevista de um exemplo citado por um grande neurocientista francês Jean-Pierre Changeux. Ela diz que se lêssemos nos jornais ou escutássemos a notícia de que a Gioconda visita o Japão, imediatamente formaríamos a imagem mental de que o famoso quadro vai ser exposto em algum museu do Japão. No mesmo instante viria à nossa mente a bela imagem do quadro de Leonardo da Vinci exposto na galeria do Louvre, em Paris, com seu sorriso enigmático. Ora, esse pensamento, essa imagem mental, vem à nossa mente como um todo, porém sem todos os detalhes. Imagino que muitos que a conhecem quer seja por terem visitado o Louvre, ou por gravuras ou fotografias não saberão dizer, no momento em que leram a notícia, qual das mãos se superpõe sobre a outra. A direita sobre a esquerda ou vice-versa? A imprecisão da lembrança não invalida o inquestionável fato da imagem mental. Um leitor mais talentoso poderia mesmo, a partir dessa imagem mental, esboçar um desenho no papel da imagem que lhe veio à mente. Hoje em dia não há nenhuma dúvida sobre a existência de imagens mentais e, com certeza, esta é uma das formas pelas quais o pensamento se organiza. Resta dizer que para que as imagens mentais existam é preciso redes neurais especializadas para gerá-las. E essas redes podem ser mapeadas pelos registros com ressonância magnética e Pet. Há exemplos interessantes gerados pela ressonância magnética funcional de esquizofrênicos no momento em que suas imagens mentais constituem puras alucinações e nos momentos em que esses fenômenos não acontecem. Enquanto alucinam as áreas envolvidas no processamento dessas imagens podem ser nitidamente registradas.
Os anos 90 foram considerados a década do cérebro. O tema tem conseguido muito destaque justamente por conta de novas descobertas, justificando até uma revista específica sobre o assunto, a Mente e Cérebro, da qual o sr. é colaborador. O momento é realmente palpitante para a neurociência? Quando decidi escrever meu livro mais recente, O Homem que Fazia Chover, estudei bastante justamente os aspectos mais modernos da neurociência. Que, aliás, são muitos. Até o final da década de 70 não tínhamos métodos diagnósticos precisos. A neurociência engatinhava. Para se ter idéia, o exame mais saliente para observar estruturas dentro do crânio era o de espetar uma agulha no pescoço do paciente, injetar um contraste e fazer uma dedução, pela posição dos vasos, se havia algo de errado, algum deslocamento, etc. Inferíamos o que o sujeito tinha. Então, às vezes abríamos o crânio para operar um tumor e encontrávamos um coágulo, ou vice-versa.
E o que mudou nessa virada da década de 70 para a de 80? Surgiu a tomografia computadorizada. Foi uma revolução diagnóstica absoluta para o estudo de todo o sistema nervoso, incluindo aí o cérebro. Com ela, as imagens são precisas, é possível observar claramente as estruturas. Já no final da década de 80 surgiu a ressonância magnética, que foi outro salto. Na década de 90 surgiu o SPECT (tomografia por emissão de fóton único), que permite estudar o metabolismo do cérebro e permite ver áreas, por exemplo, que estão consumindo mais glicose e mais oxigênio. E a coisa não pára por aí: veio a ressonância magnética funcional, que é muito superior em nitidez e em resolução. E com um detalhe: não mostra só a imagem estática, mas o funcionamento. Temos agora um novo exame, o Pet Scam (tomografia por emissão de pósitrons), que ainda não caiu na rotina, pois temos poucos aparelhos no Brasil. Esse é uma das novidades mais fascinantes das pesquisas em neurociências.
Por que? Ele mostra a imagem em funcionamento, a cores. As áreas cerebrais que estão sendo mobilizadas para determinada função. Então, é possível colocar uma pessoa em uma câmera de Pet, pedir a ela que mova o polegar e a máquina mostra que áreas do cérebro estão sendo acionadas para realizar aquela função. Isso vale para o resgate de idéias ou de emoções. Para pesquisa, é uma coisa fantástica. Mas a pesquisa sobre o cérebro avançou enormemente na última década.
De que forma a melhora no diagnóstico tem afetado o modo como as doenças são vistas? Temos sido capazes de mostrar a base orgânica de doenças que antes eram consideradas puramente emocionais ou psíquicas, por exemplo. Uma surpresa para o meio científico, foi o aparecimento, em exames como tomografia ou ressonância, de alterações cerebrais evidentes em esquizofrênicos. Sabemos hoje que, entre as várias alterações apresentadas pela doença, estão a perda acentuada de neurônios e a atrofia de certas áreas do cérebro, alargamento de ventrículos. Então, à medida que os progressos estão acontecendo, as pesquisas têm sido aprofundadas.
E como isso tudo se relaciona também com as pesquisas em torno do genoma humano? Isso traz uma infinidade de especulações. Só pra se ter uma idéia, ainda no capítulo da esquizofrenia: uma das teorias diz que a doença tem origem genética. Mas não é uma genética tão clara assim, que diz que se os pais têm a doença os filhos também terão. Se pegarmos o exemplo dos gêmeos univitelinos, que têm o mesmo patrimônio genético, observamos que um pode ter a doença e outro não. Certamente há aí algum fator ambiental. Mas, nos estudos recentes do Genoma, os cientistas observaram que existem determinadas sequências gênicas que são exatamente iguais aos chamados retrovírus (o vírus da Aids, por exemplo). A principal característica desse tipo de vírus é que ele invade a célula e se dirige ao núcleo e se incorpora em seu DNA, de tal forma que, quando essa célula se multiplica, ela transmite o vírus para as outras no patrimônio genético.
Isso significa, então, que o homem carrega esses vírus em seu DNA? É isso. No genoma humano há sequências de vírus. A mensagem que deve ser lida aí é que em algum momento da evolução humana, lá para trás, alguns vírus se incorporaram em nosso patrimônio genético. Eles estão desativados, por uma reação química chamada metilação. A idéia que essas descobertas despertaram é a de que doenças como esquizofrenia, esclerose múltipla e outras doenças neurológicas frequentes poderiam ser devidas a uma ativação, por algum processo ambiental, desses vírus que todos carregamos. É uma ponta de pesquisa bastante recente e muito interessante. Primeiro porque mostra novos caminhos e, depois, porque atesta nossa origem animal.
Dentro desses estudos, o que mais lhe chama a atenção? O que tem me interessado sobremaneira é a questão das relações mente/cérebro. Estamos muito longe de saber definitivamente o que realmente acontece. Há muito pouco entendimento sobre o que é a mente humana e quando ela começou. As teorias antropológicas mais convincentes admitem que a mente estruturada como temos hoje também é um produto da evolução. Talvez se voltarmos aos nossos antepassados hominídeos, veremos que eles já tinham uma forma de mente primitiva.
Para onde todas essas pesquisas levarão? Essa pergunta é interessante, mas tem uma única resposta: impossível prever. Não sabemos onde vamos chegar, mas com certeza, já demos os primeiros passos. Essa relação da mente com o cérebro deu origem, inclusive, a uma nova ciência, chamada Neurociência Cognitiva, que se ocupa exatamente dessas funções intelectuais e mentais e suas relações com a estrutura orgânica, ou seja, o cérebro físico.
No caso da depressão, também são encontradas essas evidências orgânicas? Sempre foi entendido que a depressão era uma consequência da história de vida da pessoa. Em um raciocínio bastante simplista, dizia-se que se alguém tivesse um passado tumultuado e traumático, estaria mais propenso à depressão na vida adulta. Hoje sabemos, por meio da ressonância magnética (aquela do início da década de 80) que a depressão maior, na maior parte dos casos, está acompanhada de uma redução do volume de uma área do cérebro chamada hipocampo. Então, a própria depressão tem uma base biológica e até anatômica que desconhecíamos até pouco tempo.
E no caso de doenças degenerativas, como Parkinson e Alzheimer? O Mal de Parkinson é responsável por 2/3 dos doentes que procuram o serviço neurológico para tratamento de movimentos involuntários nos grandes centros. É uma doença na qual acontece morte celular. Começa em uma estrutura do cérebro chamada substância negra, que produz a dopamina, um dos neurotransmissores que fazem a comunicação entre as várias áreas do cérebro e é extremamente necessária para o controle dos movimentos. Por isso é que, quando a doença é desencadeada, a pessoa começa a sentir vários sintomas, entre eles os conhecidos tremores da doença de Parkinson. Pois bem: nos últimos anos descobriu-se um fenômeno que está presente tanto na doença de o Parkinson quanto na doença de Alzheimer — e provavelmente na esquizofrenia — que é o chamado suicídio celular, um fenômeno conhecido por apoptose celular. O que difere uma doença da outra é o local do cérebro onde isto ocorre. Na doença de Parkinson concentra-se na substância negra. Na doença de Alzheimer a área atacada é a da memória, o lobo temporal. O mais fascinante é constatar: ninguém nasce com essas doenças. A neurociência tem investigado todos os elementos para tentar esclarecer isso. São os grandes desafios da nossa época.
Em artigo recente publicado na revista científica Scientific American, o sr. estabelece uma relação entre religião e epilepsia. Ela de fato existe? O próprio Dostoiévski disse, uma vez, que entendia por que Maomé dizia poder visitar o paraíso num segundo, já que ambos eram epilépticos. Algumas pessoas (como Dostoievski e talvez Maomé ), bem raras, por sinal relatam prazer indescritível nos momentos que antecedem uma crise. Quanto à questão da religiosidade, há vários casos relatados de pacientes que, portadores de epilepsia do lobo temporal, desenvolveram religiosidade exacerbada, inclusive aqueles que não tinham nenhum vestígio de interesse religioso antes. Isso pode levar a crer que existe uma área do cérebro responsável, organicamente, pela crença e pela fé. E, mais, que uma lesão nessas redes neurais pode desencadear uma crença que não existia, que estava adormecida.
O seu livro O Homem Que Fazia Chover (editora Barcarolla, 2006) fala de especialistas que defendem a idéia de que foi justamente a epilepsia que tornou certos artistas geniais, caso do próprio Dostoiévski. Qual sua visão sobre o assunto? Acho que é uma idéia equivocada, uma especulação reducionista. Certa vez discordei veementemente de um conferencista que atribuiu o talento de Doistoiévski à doença. Ele era genial apesar dela, não por sua causa. Dizer que o compositor russo Shostakovitch compôs sua Sétima sinfonia porque era epiléptico é o mesmo que atribuir também à doença Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Madame Bovary, de Flaubert ou Os Girassóis, de Van Gogh. O mérito é ainda maior porque esses artistas, mesmo enfrentando uma doença tão grave e incapacitante, conseguiram criar obras tão geniais.
Mas o contrário também acontece, ou seja, pessoas com problemas mentais sérios são, às vezes, capazes de serem geniais em algum aspecto. Como isso acontece? Há a chamada Síndrome de Savant, por exemplo. Nela, pessoas com comprometimento mental grave, que além do autismo têm também retardo mental, são capazes de tarefas por vezes assombrosas. Um exemplo é o caso do filme Rain Man, inspirado em uma situação real. No filme, o personagem do Dustin Hoffmann deixa cair uma caixa de palitos e, em poucos segundos, diz que são trezentos e tantos palitos. Ou então, ao ver o crachá da garçonete, diz seu nome completo, endereço e telefone, porque havia decorado a lista telefônica. Esse tipo de coisa acontece de verdade e é muito impressionante. Um paciente que eu tenho e hoje tem 26 anos consegue, por exemplo, fazer contas de multiplicação com seis dígitos, em poucos segundos. No caso dos autistas savantes, nos quais a linguagem é muito comprometida, desafia a nossa compreensão o fato de que muitos deles, quando treinados para adquirir rudimentos de linguagem perdem a habilidade especial que possuíam. O exemplo mais conhecido é o da menina inglesa Nádia, que desde os 4 anos tinha habilidade genial para a pintura. Ao ser colocada em intensa atividade a fim de desenvolver a linguagem, foi aos poucos perdendo a capacidade de desenhar.
Um dos grandes mitos envolvendo mente e cérebro é o aprendizado passivo. É possível aprender dormindo? Diz-se muita coisa a respeito disso. Que ouvindo uma fita durante o sono e ouvindo novamente durante o dia você aprende um idioma em pouco tempo. Isso não acontece. Não é possível aprender durante o sono, até porque o cérebro precisa de um tempo de descanso, para se reorganizar, processar informações etc. Todo aprendizado, quer seja a aquisição de um novo idioma ou de qualquer outra habilidade, exige disciplina, concentração e, portanto, vigília. Você não aprende um idioma dormindo, da mesma forma que não é possível ensinar um neurocirurgião a operar enquanto ele dorme.
A Programação Neurolinguística é um dos aspectos mais comentados do estudo da mente. É possível, efetivamente, programar a mente? De diversas formas podemos programar nossa mente. Podemos desenvolver técnicas que nos permitam estar mais alertas, podemos nos disciplinar para inúmeras atividades. Sempre através da repetição, da disciplina e da repetição. São conhecidos os exemplos simples de quem se programa para acordar a determinada hora e o conseguem com pontualidade impressionante. Mas não podemos nos transformar em sábios do dia para a noite pelo simples pensamentos de que o desejaríamos ser. Ninguém se transforma num escritor de talento sem ter lido uma boa quantidade de livros, da mesma forma que um bom psicólogo ou cirurgião só o será depois de muita leitura, experiência prática, esforço mental e muita dedicação.
Como a literatura surgiu em sua vida? A literatura surgiu ainda quando era estudante de medicina, contribuindo com artigos de jornais acadêmicos. Meu primeiro trabalho de ficção foi publicado na extinta revista literária Ficção, do Rio de Janeiro. Mais tarde publiquei contos que resultaram no meu primeiro livro de contos Em Pleno Delito. A seguir vieram novelas (Minha Cara Impune), crônicas (Pergunte ao Mineiro) e romances (Cruz das Almas e Memórias de um quase suicida). Entre minhas leituras prediletas estão os russos, Dostoiévski, Tolstoi, Gogol e Tchekov. Leio muito os autores americanos atuais, com destaque para Philipp Roth, Updike e Paul Auster e os ensaios de Susan Sontag. Entre os latino-americanos meu escritor preferido é o peruano Mario Vargas Llosa. Entre os autores brasileiros estão Machado, João Ubaldo, Lima Barreto e o atual Marçal Aquino e um aclamado escritor recém lançado e que começou sua carreira e morou em Santos, Marcelo Mirisola.
O sr. defende, em seu livro, a volta da Medicina-romance. O que é? Medicina-romance. Infelizmente há apenas ilhas desse tipo de exercício da medicina. Entendo por medicina-romance aquela proposta pelo neurocientista russo Alexander Lúria que implicava em conviver com o doente. Acompanhá-lo no seu dia a dia, sair a campo e ter disponibilidade ilimitada para ouví-lo falar não apenas da sua doença, mas da sua vida. São vários os fatores que contribuíram para que seja cada vez mais rara. Entre elas o aviltamento da saúde pública, o atrelamento do trabalho médico a grupos de empresas que utilizam o trabalho do médico como mão-de-obra barata, não lhe dando condições de efetivamente exercer sua profissão. No entanto, apesar das dificuldades, há exceções. Há numerosos médicos que exercem por vocação e mesmo nas situações mais precárias conseguem mostrar o lado humano do exercício da profissão.
0 notes
Text
Entrevista com John Neschling, ex-regente da Orquestra Sinfônica do Estado de SP
John Neschling é um caso clássico de brasileiro cuja carreira o tornou mais conhecido lá fora do que na própria terra natal. O filho de imigrantes austríacos que vieram ao Brasil para escapar da guerra, nascido no Rio de Janeiro, comandou algumas das maiores orquestras européias e, desde 1997, é o diretor artístico e também o regente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Na entrevista a seguir, ele ainda fala sobre as polêmicas que envolvem sua trajetória (incluindo seu salário na Osesp e a experiência com a seita do santo daime) e, claro, de música clássica. Esta minha entrevista com ele foi feita em 2005, quando Neschling ainda era o regente da Osesp e bem antes dos problemas recentes…

A programação da orquestra para 2006, o ano Mozart, por marcar os 250 anos de seu nascimento, privilegia o compositor de alguma forma? Não, não teremos algo especial. Pensamos em Mozart todos os anos, é um dos nossos cavalos de batalha, sempre foi, então é uma prioridade regular. Não foi necessário fazer nada além do que já é regular, porque Mozart sempre teve um lugar especial na nossa programação. Para este ano, temos uma agenda bem variada, que cobre todos os estilos, desde as obras mais conhecidas e desejadas até as mais interessantes e pouco executadas.
Quais são as próximas viagens da orquestra? Em outubro, iremos aos Estados Unidos pela segunda vez, serão 14 concertos. No começo do ano que vem faremos uma turnê extensa pela Europa, com as principais capitais: Viena, Zurique, Genebra, Lisboa, Madri… E, ainda em 2007, teremos uma viagem um pouco menor, com 10 concertos, pela América Latina. Em 2008, são duas turnês previstas, ambas pelo Brasil: uma para o Sul e Centro-Oeste e outra para o Norte-Nordeste. Em 2009, já é confirmada pelo menos uma para os países do Oriente.
Essas viagens têm uma diferença fundamental em relação às que eram feitas antigamente: agora a Osesp é contratada, recebe para tocar, quando antes as viagens eram subsidiadas. Mudou muito? Não estamos ganhando, mas pelo menos não estamos perdendo dinheiro. Não há gasto, ao menos. Viajamos contratados por grandes instituições de concertos, para tocar em casas lotadas de público local. Não vamos patrocinados pela embaixada, isso acabou. Somos uma orquestra que é chamada para as grandes salas, para grandes públicos, pela qualidade do trabalho.
Como é o processo de educar o público para ouvir música clássica? Não acho que seja exatamente isso. A consequência pode até ser esta, mas não acredito que seja uma causa nossa. Não partimos com o objetivo de educar o público. Nosso dever, nossa função social e cultural é apresentar uma palheta, o mais diversificada possível, de música erudita para uma camada ampla da população — já que somos subsidiados pelo Governo e podemos fazer concertos relativamente baratos. Está aí a grande educação do público. Não há, de outra forma, a intenção de educar. Não somos uma escola ou um conservatório.
Mas quando a orquestra toca para crianças o objetivo é criar público futuro. Isso não teria um caráter educativo, também? Queremos, sim, desenvolver o interesse delas pela música erudita. Mas não podemos confundir as coisas. A clássica, afinal, nunca foi e nunca será a música popular. Acho que é um objetivo falho desejarmos fazer da nossa linguagem algo que interesse a todas as pessoas, porque ela exige uma série de outras características que vão além da simples vontade de se divertir. Há que se ter mais conhecimento, calma interior, interesse cultural… Não é algo de simples acesso e fruição. É um pouco mais sofisticado, o que não quer dizer que a pessoa tenha de ser rica ou privilegiada economicamente para gostar. A orquestra tem hoje uma capilarização grande dentro da sociedade, temos perto de 11 mil assinantes, gente que veste a camisa da orquestra.
Ainda em relação à educação, a Osesp iniciará, em agosto, a primeira turma de sua recém-criada academia. Foi a falta de músicos bem formados que motivou a novidade? A falta de músicos de qualidade é um problema antigo. Sentimos isso há muitos anos, nas nossas audições. Cada vez menos músicos brasileiros estão preparados para integrar os quadros da Osesp. Isso se dá, em grande parte, devido à falta de grandes conservatórios e escolas qualificadas. Há, ainda, uma visão equivocada, de que a música deve ser objeto de estudos universitários. Existem, evidentemente, matérias que se encaixam nisso, mas não acho que necessariamente o ensino de piano, violino, violoncelo ou fagote seja disciplina universitária. É muito tarde, isso precisa começar na infância. Uma criança aprende a falar com 2 anos, não com 17. Há uma visão distorcida do que deve ser o ensino de música no País.
Então a Osesp vai tomar sob sua responsabilidade essa formação? Não serão pessoas que começarão a estudar conosco, afinal. Para podermos criar uma geração de músicos de orquestra teremos que ir atrás dos talentosos que estejam entre 14 e 18 anos e dar neles um banho de orquestra, de instrução, mesmo. Serão, certamente, garotos e garotas que já tocam o instrumento com certa proficiência e têm talento, reconhecidamente, mas não o conhecimento colateral de música, que lhes permita serem profissionais completos. Então, além de aprimorá-los e fazer com que eles se preparem para a carreira em orquestra — que é uma perspectiva belíssima –, iremos também instruí-los em cultura, estética e estilo, para torná-los artistas completos.
A alternativa seria trazer músicos de fora? Esse era o futuro, indesejado, que teríamos pela frente, se essa realidade não mudasse. Seria das duas uma: uma orquestra praticamente estrangeira ou, lástima das lástimas, nenhuma Osesp, por falta de músicos de reposição. Nada do que fizemos é invenção, simplesmente aplicamos receitas mais do que aprovadas em outras grandes instituições do gênero. A partir de agosto teremos os primeiros oito alunos bolsistas. E, semestre após semestre, este grupo será aumentado de mais seis a oito estudantes, até completarmos quarenta e poucos alunos que formarão o corpo discente da academia. Se é que vamos achar oito pessoas por semestre aptas a ter essas aulas, porque não seguiremos a filosofia do puro preenchimento de vagas.
Como fica o orçamento da orquestra ao sabor dos ventos políticos? A Osesp é, sim, um projeto caro, assim como todos os grandes projetos culturais de qualidade. A lógica é a óbvia: qualidade custa caro. Mas só em termos pecuniários, e não se você pensar em termos mediatos. Pode-se aferir lucros que não são contábeis e financeiros. A relação custo-benefício só é perversa no aspecto financeiro, no dinheiro. Mas, em termos de ganho social, cultural e turístico, é extremamente generosa.
Sim, mas falo da questão da troca de governos e de prioridades. O senhor fala de uma programação da orquestra já confirmada até 2009. Uma eventual troca de partido no poder não afetaria essa agenda? Quero acreditar, sinceramente, que a Osesp ultrapassou essa fase de que é completamente dependente da boa vontade dos governantes. Ela é uma realidade cultural nacional. Acho que espelha uma vontade cultural do País. Produzimos benefícios, tanto internos quanto externos, suficientes para que não aconteça de um governante mais desavisado ou menos interessado possa, com uma penada, prejudicar esse trabalho. Hoje, quero acreditar que a Osesp não oscila mais ao sabor das vontades políticas. Até porque somos uma fundação, que possui um contrato de gestão com o Estado. Não temos, portanto, medo do ano que vem. Não somos tão frágeis como éramos há quatro, cinco anos.
Os salários da orquestra são, hoje, compatíveis com os do resto do mundo? Acho que sim, pode-se dizer isso. Talvez não sejam tão altos em termos absolutos, mas em termos relativos certamente, porque o Brasil não tem o custo de vida do Japão ou da Suíça, por exemplo. O músico da Osesp, hoje, é celetista, tem todas as garantias de um trabalhador normal. Devolvemos dignidade a ele, respeito. Além disso tudo, tem um excelente local de trabalho.
O seu salário também foi motivo de polêmica, no passado, mas a realidade mostra que, pelo trabalho desenvolvido, a remuneração em qualquer outra parte do mundo seria algumas vezes maior. Essa fase já foi superada? Se eu estivesse fazendo um trabalho compatível com o que faço aqui, ganharia três ou quatro vezes mais, lá fora. Nesse sentido, a minha relação custo-benefício é muito perversa, mas há a compensação. A Osesp é minha vida, hoje. Com nenhuma outra orquestra tive a relação que tenho com ela. Nem poderia, porque aqui eu fiz tudo: criei, imaginei, idealizei, projetei e realizei. Ouso dizer que muito poucos regentes do mundo tiveram essa chance. Talvez, durante a Segunda Guerra Mundial, alguns grandes maestros nos Estados Unidos fizeram isso, quando chegaram da Europa e construíram em Cleveland, Filadélfia, Chicago e Boston, grandes orquestras, que já existiam, mas que tomaram um novo rumo com sua chegada.
Qual é sua carga de trabalho diária? Eu dedico à Osesp cerca de 90% do meu tempo e da minha cabeça. Não do meu tempo útil, eu falo das 24 horas do dia, mesmo. Eu sonho com a Osesp quando estou dormindo, faço as refeições pensando na Osesp, acordo com a orquestra já na cabeça e, às vezes, vou para casa para estudar mais. A carga de trabalho é absurda e também errática. Entro aqui às 9 da manhã e, por vezes, saio perto da meia-noite. É uma profissão que exige muito, mas a Osesp é a menina dos meus olhos.
Sendo uma relação de paixão, fica muito mais fácil suportar essa carga, não é? É, sim, uma relação de paixão, mas é mais do que isso, beira a familiar, de responsável, mesmo. É algo fortíssimo. De amor e ódio, também.
É como naquele filme do Federico Fellini, Ensaio de Orquestra? Esse filme é genial, por extrapolar a situação da orquestra para a sociedade. Ele, na verdade, é uma parábola do que acontece na sociedade. E, nada melhor do que uma orquestra para servir de metáfora, para falar das tensões que existem em relação à autoridade. Não acho que seja a descrição correta de um ensaio de orquestra, mas chega bem próximo do que é uma relação entre comando e comandados.
Pois é: como fica essa relação de amizade, de família, quase, que existe entre o maestro e os músicos da orquestra? Tem a hora em que essa autoridade, que o regente tem de fato, precisa ser imposta… Você pode perguntar isso a um pai, também: como fica a questão dos pais com os filhos em relação a autoridade e amor?
Mas ela não se encontra, também, relativamente deteriorada, tanto na família quanto na escola? Como é a relação com quem não tem essa vivência de lidar com a autoridade? Isso não é verdade, eu não concordo. Essa relação existe, ainda. Ela muda, claro, mas os pais ainda têm autoridade sobre os filhos. Eles podem exercê-la ou não. Podem achar que é melhor ter uma infância e uma juventude sem autoridade. Temos visto por aí, aliás, qual é a consequência disso. A minha experiência pessoal com a orquestra é muito especial, uma relação mais longa que eu criei. Sei da vida de cada um, de onde vieram, para onde vão, conheço os que são casados, divorciados etc.
O senhor é conhecido como alguém de princípios muito fortes, que raramente cede no que diz respeito a eles… É uma característica minha, não sei se é uma vantagem. Não saberia ser de outra maneira, e não digo isso de forma convencida. Não foi uma decisão racional, é que não sei trabalhar de outro jeito. Não saberia voltar ao Brasil, depois de ter uma carreira estabelecida lá fora, se não tivessem aceito minhas propostas. Coloquei condições bem claras, quase egoístas, no sentido de que não deixaria o certo pelo duvidoso. Ou trabalharia de acordo com os meus princípios ou não valeria a pena. Acho que sou, sim, muito coerente com o que acredito, e procuro sê-lo, sempre.
Qual é o papel do maestro na orquestra? No meu caso, o papel foi muito maior do que a função tradicional do maestro, de ensaiar a orquestra e de aprimorar os integrantes técnica e musicalmente. Fui uma pessoa que propôs o projeto de criar uma realidade musical diferente em São Paulo. Um centro musical, que engloba não só a orquestra, mas uma academia, uma editora, projetos educacionais, discos, viagens, um coro infantil, um profissional, a criação da Sala São Paulo… Aí o papel do maestro extrapolou, de longe, o tradicional.
O sr. nasceu em 1947 e foi adolescente, portanto, na época da contracultura. O que lhe fez se interessar por música clássica em um momento em que toda a tradição era contestada? Acho que música clássica é resultado de um interesse de infância. Alguns até despertam a partir dos 17, 18 anos…claro que isso pode acontecer. Mas não é o comum. Crescer em uma família que houve música erudita regularmente, que oferece o gênero às crianças, esse é o segredo. É só acostumá-las à linguagem, que é mais sofisticada. Eu tive essa vantagem, esse privilégio. Então, a contracultura não teve muita influência. Era uma época de movimento estudantil forte, de contestação de autoridade, mas não afetou meu amor pela música. Passei por todas essas fases independentemente dos meus valores musicais.
A escola teria um papel nessa educação musical? No meu caso teve e foi muito importante, mesmo eu tendo aula de música fora dela. Acho que uma das falhas do ensino brasileiro é justamente essa, terem acabado com o canto orfeônico nas escolas. A Educação Artística é muito relegada a um segundo plano, apreciação musical não existe, coros são muito poucos. Dão mais valor às matérias técnicas e à Educação Física, que também são importantes, claro. Se relegou a um segundo plano a visão da história da arte, da música, do teatro, que considero fundamental para a formação completa do jovem.
Como foi a infância no Rio de Janeiro? Foi normal, não teve nada de especial. Não fui menino prodígio, nem mantido à parte de nada. A única diferença que havia era o fato de eu ser filho de imigrantes, judeus, então tinha uma ligação com outras línguas, com o diferente. Nesse sentido, minha visão do mundo foi influenciada, mas de resto não foi uma infância digna de nota. Fui ao colégio, pratiquei esportes, tinha amigos, namoradas. Uma infância normal.
Com que idade foi estudar na Europa? Fui com 17 anos, depois da escola. Acabei o curso clássico, no colégio Andrews, do Rio de Janeiro, e fui estudar em Viena.
Sozinho? Sim, sozinho. A partir dessa idade nunca mais voltei a viver em família. Evidentemente tinha muito contato com meus pais, era filho único, mas nunca mais tive aquela vivência de família, a não ser a que eu mesmo criei. Fiquei até os 27 anos na Europa, depois voltei ao Brasil e morei outros 10 anos por aqui. Retornei à Europa e vivi mais uns 15 por lá, até voltar de vez, já para São Paulo, para me dedicar ao projeto da Osesp, a convite do Mário Covas. No início, eu ainda vivia na Europa, mas aos poucos o trabalho foi me envolvendo e me mudei definitivamente para cá.
A sua formação musical lá fora incluiu aulas com o Leonard Bernstein… Sim, mas estudei, sobretudo, com o Swarowsky, em Viena, que foi meu grande mestre. Frequentei oito anos a Academia de Música de Viena, na qual me formei regente. Depois fiz cursos, inclusive com o Bernstein, nos Estados Unidos, mas não me considero seu aluno, de fato. Tive uma formação com muita base. Nada superficial.
Seu contato com cinema é bastante amplo, não? Fiz muitas trilhas, mas meu contato com cinema foi muito circunstancial. Começou logo depois daquela minha primeira experiência na Europa. Quando voltei ao Brasil, queria reger, mas via muito poucas possibilidades disso acontecer. Comecei a fazer música incidental para teatro e, automaticamente fui também para o cinema. Tive a sorte de fazer alguns bons filmes, incluindo aí Lúcio Flávio — O Passageiro da Agonia, Pixote, O Beijo da Mulher Aranha e certamente compus uma música aceitável. Ganhei alguns prêmios e, quando voltei a reger novamente, me afastei do cinema e do teatro. Nunca completamente, mas agora de forma bem mais espaçada, por falta de tempo, mesmo.
Também fez trabalhos para a TV? Alguma coisa. A trilha incidental de Os Maias, a minissérie. Também para a Globo compus a trilha incidental da novela Esperança, em 2002.
Foi em outro trabalho no cinema — Bonitinha, mas Ordinária — que o senhor conheceu a atriz Lucélia Santos, que foi sua mulher? Conheci no teatro, antes. Tive uma relação longa com ela e um filho, o Pedro, que tem hoje 23 anos.
Pedro Neschling, que agora segue os passos da mãe e já estrelou duas novelas globais, A Lua Me Disse e Da Cor do Pecado. Agora muita gente o conhece como “o pai do Pedro”. Como é isso? Acho ótimo. Um certo grupo sempre me conhecerá pelo que eu sou. Isso só ampliou o universo das pessoas que me conhecem. Me sinto muito orgulhoso, o Pedro, afinal, é também uma criação minha. É um menino de ouro, está fazendo seu caminho e tenho com ele uma relação de paixão muito, muito íntima e bem resolvida.
Sua experiência com a seita do santo daime, na década de 80, também marca sua biografia. É difícil falar dessa fase? Sempre fui muito curioso, em tudo. Nunca tive medo de experimentar. E busquei, também, sempre a espiritualidade. Levei tempo para achar. Voltei há alguns anos para o judaísmo, conscientemente, com muito entusiasmo e paixão. A Patrícia, minha mulher, também se converteu. O santo daime foi uma das minhas experiências de busca. Mas foi algo passageiro, que nunca me entusiasmou. Foi uma fase pouco madura, em que procurava essa mistura do esoterismo com a espiritualidade. Passou.
Voltando à música de cinema: ela é bem utilizada? Compor para uma série, como foi o caso de Os Maias, é bem diferente do que para cinema. Você cria temas e algumas atmosferas musicais que são utilizadas indiscriminadamente ao longo de toda a produção. No cinema, a música é feita para a cena específica. Acho que hoje, no Brasil, já existem trilhas de muita qualidade. Antigamente era tudo muito amadorístico. Aliás, no mundo inteiro foi assim, só com o desenvolvimento da cultura cinematográfica e do cinema como forma de expressão é que começaram a surgir os grandes músicos desse segmento. Aqui, levou mais tempo.
É correto afirmar que a trilha para cinema é a música orquestrada mais popular da atualidade, a que mais chega às massas e a que permanece nos ouvidos do público? É verdade. A música do John Williams, Howard Shore, Nino Rota, Enio Morricone… É uma linguagem específica que faz muito sucesso, justamente porque é ligada à emoção.
Está entre seus planos futuros parar com tudo e se dedicar apenas à composição? Eu penso nisso há muito tempo. Mas vou dizer uma coisa: acho que não sou compositor. Estou sempre pensando que o que tenho a dizer, musicalmente, não é transcedental. Tenho um pouco de medo de escrever banalidades. O compositor produz quando, ao menos ele, acha que o que tem a dizer é importante, seja a respeito dele próprio, do mundo ou de outra pessoa. Então, não consigo me sentir obrigado a compor. Me sinto com a obrigação de reger. Faço isso por vocação, mesmo. Composição não é. Se eu o fizer, certamente, não será para mostrar aos outros.
Mas não dá orgulho ter na família um parente do calibre do compositor austríaco Shoenberg, autor de um dos grandes tratados de harmonia da história da música, e que é seu tio-avô? Não sei. Não me dá muito orgulho, não. Primeiro porque não tinha muita noção da importância do Shoemberg até me tornar um músico maduro. Mas o orgulho é o mesmo, por exemplo, que todos os brasileiros sentem por saber que o Ayrton Senna nasceu aqui, que o Pelé também, que Jorge Amado e Rubem Fonseca são brasileiros. Por acaso nasci nessa família, não vejo mérito pessoal qualquer nisso.
A visibilidade que a Osesp ganhou no mundo está fazendo com que a música erudita brasileira seja mais conhecida lá fora? Acho que sim, e esse é um dos grandes pontos positivos dela, o fato dela ter aplainado um pouco o caminho de músicos brasileiros de orquestra e da música brasileira lá fora. Estamos ganhando prêmios com nossos discos, a Osesp tem sido convidada para tocar no mundo inteiro, grandes maestros e solistas querem e pedem para vir ao Brasil e se apresentar conosco. Acho que abrimos uma avenida importante.
De que forma essas conquistas mudaram sua vida? Isso não mudou muito minha essência, continuo sendo um cara de família, um sujeito bem casado com a escritora Patrícia Mello, com um sentimento muito forte e um desejo de solidão também muito arraigado, uma necessidade de estar sempre lendo e se atualizando. Sou muito interessado em política, em literatura, em artes plásticas e, sobretudo, na natureza, no silêncio. Essas coisas não mudaram em mim.
Dá tempo de ter hobbies mesmo com a agenda cheia? Ler é o principal deles. Leio histericamente. Todos os dias e sem parar. Meu interesse é cultura, história e literatura, também, sem parar.
E de ouvir outros tipos de música que não seja a clássica? Ah, dá, sim. Sempre dá. Quanto mais você faz, mais tempo tem para fazer coisas. Ouço muito jazz e também MPB. Gosto também de cinema. Organizando bem o tempo, dá para fazer tudo. Até dormir. Gosto muito de dormir, também.
Como alguém com conquistas tão marcantes lida com a vaidade? A vaidade faz parte do artista. Mas, com o tempo, sublimamos isso e a transformamos em algo criativo. Se virarmos escravos dela acabamos fazendo bobagem. Devemos ter orgulho do resultado, do que conseguimos atingir, e não de nós mesmos. E mais: quanto mais estudo, mais chego à conclusão de que não sei muita coisa, de que nunca vou saber muito, nunca saberei tudo o que quero, nem serei tudo o que quero ser, nem conseguirei atingir todos os objetivos que almejo. Dessa forma, a vaidade perde o sentido.
0 notes
Text
Entrevista com Ray Conniff
Ele é maestro da última grande orquestra do mundo. E, certamente, a mais conhecida da atualidade. Ray Conniff é um dos maiores arranjadores da história da música. Na entrevista a seguir, ele conta detalhes de sua vida e da carreira, fala de música contemporânea, do público brasileiro e nega que vá se aposentar.

Quais são os planos para o futuro? Uma parte da imprensa tem divulgado que esta seria sua última turnê internacional. É verdade? Estão dizendo, inclusive jornais, revistas e nos anúncios dos meus shows, que vou parar. Só esqueceram de me consultar a respeito. Não pretendo parar. Estou com 85 anos e não sei quanto tempo mais Deus me dará, mas enquanto eu estiver por aqui, vou trabalhar com música. O que sei, de imediato, é que a atual turnê termina com o show aí de Santos. A partir de segunda-feira estarei de férias. Eu e minha esposa vamos sair de férias, viajar por pelo menos uma semana no nosso motorhome, pelos Estados Unidos. Vamos a um lugar que adoramos, na Pensylvannia, habitado exclusivamente pelos amish, um povo que veio da Suíça, a mesma terra da minha esposa, e que não têm nem telefone nem eletricidade nem nada de modernidades. É muito quieto e possibilita um grande contato com a natureza.
O sr. nasceu e mora nos Estados Unidos. O atentado a Nova York, claro, o afetou como ser humano. E sua agenda, foi prejudicada de alguma forma? Moro em Los Angeles, do outro lado dos Estados Unidos. Eu vim para o Brasil no domingo anterior ao atentado e soube do acontecido pela minha esposa, que está lá, com quem converso diariamente. Ela me avisou que vários shows e turnês de outros músicos haviam sido cancelados em virtude dos ataques terroristas. Eu já estava no Brasil, mas minha banda, não. Corri o risco de não poder fazer os shows porque todos os vôos estavam cancelados. Eles tiveram que pegar um ônibus de Los Angeles para Tihuana, no México, e de lá pegaram um vôo para a Cidade do México. Só então conseguiram embarcar para São Paulo.
O repertório das apresentações mudou muito em função dos atentados? Até conversei com minha esposa, Vera, sobre ser ou não inoportuno tocar New York, New York no show, pois meus arranjos são bem alegres e talvez o momento não fosse para felicidade. Ela me deu um argumento definitivo: é exatamente o que os terroristas querem, acabar com nossa vontade de ser alegres, tirar nosso espírito. Decidi, então, mudar apenas a abertura do show. Abro com Ave Maria, peço um minuto de silêncio e ofereço, em seguida, New York, New York, como homenagem às vítimas. Depois, o show continua normalmente.
Mudando para assuntos mais agradáveis, como o sr. despertou para a música? Nasci em 1916, em Attleboro, Massachussets, em uma família de músicos. Meu pai tocava trombone e minha mãe era pianista. Os dois costumavam cantar para mim quando eu era criança. Quando tinha nove anos, meu pai me deu um trombone. Não me interessei muito, pra ser sincero, até porque achei que aprenderia imediatamente e me decepcionei, fiquei envergonhado, porque queria impressioná-lo. Mesmo assim, quando cheguei ao colegial, me juntei com outros sete amigos e montamos uma orquestra de dança. Isto foi em 1933, se não me engano. A partir deste momento, a música passou a ser a coisa mais importante da minha vida.
E a carreira de arranjador, como se desenvolveu? Meu pai, apesar de tocar trombone, não era um músico profissional. Exercia outras atividades e tinha a música como hobbie, uma paixão. Ele assinava a revista Billboard. Um dia estava lendo essa revista e achei um anúncio de um método para escrever músicas, para transpôr arranjos de um instrumento para outro. E o melhor de tudo: custava apenas US$ 1. Foi o melhor investimento que fiz até hoje. Meu primeiro arranjo escrevi por este método. Foi da música Sweet Georgia Brown, ainda naquela época da escola.
E seu estilo, considerado único, cujo nome virou até sinônimo do ritmo? É uma pergunta difícil de responder. Sempre achei que o ritmo é a coisa mais importante de uma música. Acho que as pessoas reconhecem de imediato quando uma música é minha justamente pelo ritmo forte, pelo modo como uso as vozes, o coro característico. E também porque tocamos sempre as músicas que são fortes hits em todo o mundo, como aquelas que chegam ao primeiro lugar da Billboard, no máximo as top ten. Acho que esses elementos, o ritmo e o coro funcionando como mais um instrumento, são minha principal característica e eles aconteceram normalmente.
E depois da escola, a carreira de músico veio naturalmente ou tentou uma carreira ‘formal’? Quando saí da escola, não pensava em seguir carreira musical. Meu objetivo era entrar em uma faculdade de Boston, o Massachussets Institute of Technology (MIT). Mas, no mesmo período, comecei a receber muitos convites de orquestras, tanto na minha cidade quanto em Boston. Vi que era uma boa oportunidade, parecia que Deus estava me dizendo que aquilo era o que eu devia fazer da minha vida. Muitos músicos me telefonavam e convidavam para tocar trombone com eles e também para fazer arranjos de suas orquestras. Fui para Nova York, onde todos os grandes músicos da época tocavam, nas big bands.
No início da carreira, o sr. tocou com músicos já conhecidos e respeitados à época, como Harry James e Artie Shaw. Foi uma influência importante? Toquei com muitos. Meu primeiro emprego foi como trombonista e arranjador de Bunny Berrigan. Depois toquei na orquestra de Bob Crosby, onde passei um ano. A seguir fui contratado por Artie Shaw, depois por Glenn Ray. Em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, fui chamado para fazer arranjos para o serviço de rádio das Forças Armadas, onde permaneci até 1946. Quando saí do exército, fui orquestrar para Harry James. Toquei em todas as grandes bandas da época, e tenho orgulho disso.
Qual sua opinião sobre a música composta atualmente? Há muita coisa interessante acontecendo, bons compositores surgindo, fazendo sons agradáveis. Não gosto de tudo, entretanto. O rap, por exemplo. Não acredito que vá durar muito tempo sem evoluir para outra coisa. Música é feita por três elementos: harmonia, ritmo e melodia. Rap é basicamente ritmo e tem alguma harmonia, mas nenhuma melodia. É música incompleta.
E a música eletrônica? É possível compôr música eletrônica bonita. Mas não acho, por exemplo, que os Djs façam música. Apenas tocam e misturam músicas criadas por outros. Roubam, enfim. Uma pessoa do meu fã-clube na Alemanha me mandou um CD de samplers em que um DJ usava minha versão de Besame Mucho. Não puseram meu nome em lugar algum, não me deram crédito algum por ter criado aquele arranjo e, principalmente, não me pagaram nenhuma participação.
Como é a escolha de seu repertório? Toca só o que gosta? No início, sim. Comecei na Columbia Records no início da década de 50, convidado por Mitch Miller, o diretor da gravadora. Ele me conheceu como arranjador, quando trabalhava com Harry James, e me deu oportunidade de fazer arranjos para outros artistas, especialmente Johnny Ray, Guy Mitchell e as primeiras canções de Johnny Mathis, como It´s Not For Me To Say e Chances Are, canções das quais eu gostava muito.
Como surgiu o primeiro disco próprio? Todas estas músicas que eu arranjara para outros maestros se tornaram sucessos e Mitch percebeu que já era hora de produzir um CD com meu nome, orquestra e coro. Era um single. Perguntei que repertório devia tocar e ele me deu uma liberdade rara para alguém que estava começando: me disse para escolher o que gostava e produzir meus próprios arranjos para estas músicas. Foi o que fiz. Escolhi músicas que eram sucessos de público e de vendas à época: Stardust e Beguin the Beguine. Os executivos da Columbia me chamaram de volta ao estúdio para gravar outras dez músicas e assim surgiu S’ Wonderful, meu primeiro álbum, que no início não vendeu muito mas depois de dez meses decolou e ficou outros nove meses entre os discos mais vendidos nos Estados Unidos.

O sr. sempre deu muito valor à musicalidade de uma canção. Quais são suas preferidas? Seu compositor preferido é Tchaikovski, não? Gosto de grandes melodias. E é verdade, Tchaikovski é um dos meus favoritos. Gosto muito, também, de Henry Mancini. Acho que minha música preferida é a maravilhosa Love Letters. Mas considero compositores eruditos melhores que os populares. Esta é minha preferência e, se eu pudesse tocar exclusivamente o que gosto, é o que eu tocaria.
Não é estranho um músico que é conhecido por seus arranjos bastante alegres ser fã da bela, porém de certa forma triste, música de Tchaikovski? Quer saber? Isso é uma espécie de tradição na música. As mais belas melodias têm algo de melancólicas, de tristes. Eu gosto, também, de músicas alegres, mas você me perguntou no início da entrevista o que eu gostava mais. Está aí a resposta, é disso que eu gosto. Acho que esse é um dos aspectos mais interessantes da música, a distorção das emoções. Belas melodias, alegres ou tristes, me fazem lembrar da natureza, que é sempre bela, e de Deus, que é a origem de tudo isso.
Que momentos considera os melhores da carreira? Você provavelmente está falando de momentos musicais, não?
Também, ou qualquer outro que o sr. considere marcante… Volto, então, para antes da carreira oficial. Nunca vou esquecer os momentos, quando era criança, em que meus pais cantavam e tocavam para mim. Isso é o mais marcante, tem, além de tudo, uma carga emocional muito forte, minha ligação com meus pais era extraordinária. Outro grande momento foi quando, anos mais tarde, toquei pela primeira vez naquela orquestra da escola. Meu primeiro emprego na orquestra de Bunny Berrigan, foi maravilhoso. E, claro, quando saiu o primeiro disco de Ray Conniff Orchestra and Chorus.
Alguma frustração? Não vou falar de coisas negativas. Não dou a mínima para os críticos que não gostam da minha música. Leio muito e sei muito bem o que dizem, as piadas que fazem, os sarros que tiram de mim. Não faço música de elevador e me dedico muito à minha carreira. Sei do talento que Deus me deu, que não é meu, foi emprestado por ele. Não me importo, portanto, com o que dizem dele. Acho que meus fãs pelo mundo podem responder às críticas melhor do que eu.
O sr. tem uma relação muito próxima com o Brasil e talvez faça mais sucesso aqui do que nos Estados Unidos. É seu público mais fiel? Já era músico havia algum tempo quando os executivos das gravadoras me disseram: “Ray, seus discos são um verdadeiro fenômeno nos países latinos, especialmente no México, na Europa e no Brasil”. Sugeriram que eu gravasse um álbum exclusivamente com temas latinos. Foi um dos meus primeiros trabalhos, o disco Say It With Music. Era o álbum que tinha Besame Mucho, Night and Day, Brasil, Aquarela do Brasil e Tico Tico no Fubá. Isso marcou o início de um contato muito próximo, em que me mandam o que faz sucesso no Brasil e eu gravo com meus arranjos. O Brasil é um dos lugares em que mais vendo discos no mundo. Vendo perto de 2 milhões de álbuns por ano. Um milhão nos Estados Unidos e um milhão no resto do mundo. Deste milhão, metade é no Brasil. Nos meus shows — e isso sempre me surpreende — a música mais aplaudida é Emoções, de Roberto Carlos. Por isso, quando vou à Alemanha, ou à Inglaterra, ou à Itália, digo a eles que são grandes fãs, mas nunca que são os maiores. Porque preciso ser honesto: meus fãs mais apaixonados estão no Brasil. Mas não toco músicas brasileiras apenas porque são brasileiras ou para fazer média. Toco porque as acho espetaculares, mesmo.
0 notes
Photo

Para quem curte seriados como 'Twilight Zone', 'Galeria do Terror' e outros do gênero, hoje em A Tribuna falo de 'O Gabinete de Curiosidades de Guilherme del Toro', antologia de horror que estreia na próxima terça-feira na Netflix. Terrorzão daqueles bem assustadores!! https://www.instagram.com/p/CkDnRIsA7KBEAN_aivGmBF5gRe-HajPl2mNWLc0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Photo

Auto-retrato com chapéu de palha, Vincent Van Gogh, 1887. Um dos 36 auto-retratos que ele produziu, entre Paris e Arles, como forma de aprimorar a técnica e se auto-conhecer. Um dos últimos representa os momentos logo após o artista ter cortado a orelha e enviado ao amigo Paul Gauguin. https://www.instagram.com/p/CkB4TgupsMuzC2Gp9wSro9-0VXH_H3_Ad-vi8M0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Photo

Marilyn Monroe já era uma grande estrela do cinema quando, nos anos 1950, ficou revoltada ao descobrir que artistas negros eram proibidos em Hollywood. Usou seu status de estrela para um gesto fraternal e, no fundo, político: disse ao dono do Mocambo, grande boate de jazz da época, que se ele contratasse Ella Fitzgerald para cantar, ela (Marilyn) iria todos os dias ao lugar e se sentaria na primeira fila. Uma semana depois, Ella já cantava no palco do Mocambo, Marilyn cumpriu sua promessa e, depois de ter enfim a chance de mostrar seu talento, Ella explodiu e nunca mais precisou se apresentar em pequenos clubes. https://www.instagram.com/p/Cj_dK1DgLks0bz07gSpVDD0S8tv0zmwgNn7O1g0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Photo

Tela de Pérez Villaamil, Igreja de São João dos Reis em Toledo (Espanha), 1839. Óleo sobre tela. https://www.instagram.com/p/Cj7-khSg8suhST0kINfMNG8zalrArova8BBOaI0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Photo

Marilyn Monroe e Jack Lemmon, em 1959, filmando 'Quanto Mais Quente, Melhor', uma das melhores comédias de todos os tempos! https://www.instagram.com/p/Cj6EoLJPfoX9QyHhOkzWV6uIC004q6LTN8L2bk0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Photo

Foi engraçado. A Adriana Yumi Ohashi estava doida para ver o novo filme de um dos grandes crushes dela, o Brad Pitt. E eu, resignado, topei. Começado o filme, a coisa inverteu. Ela horrorizada, virando a cara para as cenas mais violentas e eu pulando no sofá de empolgação. Não é um clássico nem um filme memorável, mas há horas em que tudo o que precisamos é de uma diversão absolutamente descompromissada. E 'Trem-Bala' é isso, puramente. O mais recente filme de Brad Pitt é uma divertida comédia de ação com um humor bem peculiar, no mesmo estilo de 'Deadpool' mas com aquela construção típica dos filmes de Quentin Tarantino. Até entendo quem não curtiu, é preciso olhar e disposição bem específicos. Mas eu adorei, achei engraçadíssimo e curti até como se fosse um desenho animado daqueles para adultos. Minhas impressões estão na coluna de hoje do Domingo +, no jornal A Tribuna. Nas bancas e no app!! https://www.instagram.com/p/CjxpgZtgMMcXIE_vFE7Og1Km6lamphcM24Uz240/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Photo

Do último domingo, minha coluna no Domingo +, de A Tribuna, fala sobre a série Andor, um approach bem diferente ao universo Star Wars e, talvez por isso mesmo, das melhores coisas que foram feitas. Não tem sabres laser, não tem batalhas espaciais. Tem política, burocracia, soldados imperiais com treinamento precário, império oprimindo com mão forte e, como consequência, o nascimento da Aliança Rebelde. A ação se situa entre 'Episódio 3' e 'Rogue One' e o protagonista é o mesmo Andor (Diego Luna) do filme que mostra o roubo dos planos da Estrela da Morte. Muito, muito bom!! https://www.instagram.com/p/CjokinpNXlm8uKGmb669xsmPsIH-Xzq-1QE5700/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Photo

Não odiei a nova biografia de Marilyn Monroe, Blonde, como alguns amigos. Mas também não adorei. Um filme cheio de estilo e de sofrimento!!! Com muito atraso, compartilho a coluna do último domingo no Domingo +, em A Tribuna, falando sobre o lançamento badalado da Netflix. Marilyn merece mais!! https://www.instagram.com/p/CjambfEgvbNZU6yhOLun2kWxpBoFApAXH5u3WU0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Photo

Oops... Marilyn Monroe https://www.instagram.com/p/Ci_J5hMpfKU13zkTYm9pxeSl0oiOoSgTV5VsWU0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Photo

Na coluna desta semana no Domingo +, de A Tribuna, listo filmes e séries sobre política para nos inspirarmos para o domingo que vem! https://www.instagram.com/p/Ci7zF9Cg-JAE3H4zFPhc0Ks2-mAuZvrLEw8Fng0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Photo

Com muito, mas muito atraso mesmo, a temporada final da série Brooklyn Nine-Nine, uma das comédias mais divertidas dos últimos anos, chega nesta terça-feira ao Netflix. Lá nos EUA ela já foi ao ar há um ano, ou seja, qualquer surpresa que pudesse haver já foi descoberta há muito tempo pelos fãs brasileiros. Ainda assim, uma boa notícia para quem curte a série. Falei dessa estreia na coluna de hoje do Domingo +, de A Tribuna. https://www.instagram.com/p/Ciq_xIkNxo5W5ZUMwodwu2QJPqecY3uRGB1gKo0/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes